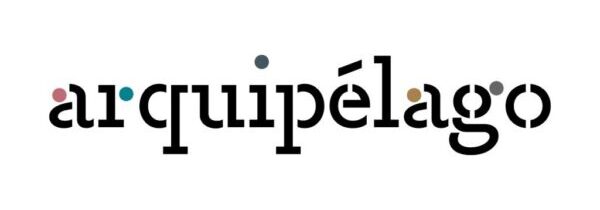Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré fez curtas temporadas em São Paulo e outros estados e participou de festivais. Foto Vinícius Elizário
 Marginalidade e marginal, esses conceitos difusos, correm pelas bordas na peça Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré. Concebido nas entranhas de um rio do Recife, o espetáculo entende-se com a lama e dela tira sua sustância. Quando chama para si essa ideia de margem, o grupo São Gens posiciona o perfil sociológico dos integrantes: de quem mora ou viveu na periferia, que nunca teve as mesmas oportunidades dos privilegiados de classe, que sofreu na carne os preconceitos dos que estão na mira da polícia.
Marginalidade e marginal, esses conceitos difusos, correm pelas bordas na peça Narrativas Encontradas Numa Garrafa Pet na Beira da Maré. Concebido nas entranhas de um rio do Recife, o espetáculo entende-se com a lama e dela tira sua sustância. Quando chama para si essa ideia de margem, o grupo São Gens posiciona o perfil sociológico dos integrantes: de quem mora ou viveu na periferia, que nunca teve as mesmas oportunidades dos privilegiados de classe, que sofreu na carne os preconceitos dos que estão na mira da polícia.
Essa experiência é transformada em poética, em atuação cultural viva e pulsante com as marcas desse tempo. Os vínculos estabelecidos entre criação teatral e realidade social são fortes e estão entranhados nos corpos dos atores. De muitas formas eles falam de si.
Ao assistir à peça lembro das concepções do médico e geógrafo, cientista social, político e ativista de combate à fome Josué de Castro (1908 – 1973) – convocado por Chico Science e trupe para dar sustentação ao Manguebeat – que apontava que o Recife é filho dos mangues. Na cidade aterrada, essa origem é muitas vezes abafada, disfarçada, apagada. Autor de uma extensa obra – entre Geopolítica da fome, Fatores de localização da cidade do Recife e Homens e caranguejos – Castro tirou o mangue do mangue, valorizando a paisagem com seu olhar científico e estético e dissecou esse lugar dos “excluídos sociais”.
Na sua ambição de ser um cidadão integral, o geógrafo Milton Santos (1926 – 2001) escrutinou a existência de uma cidadania brasileira. E analisou a distribuição das pessoas desigualmente nos espaços a partir de atividades econômicas e da herança social; o que determina o acesso (ou não) aos bens e serviços oferecidos pela rede urbana e sistema das cidades.
As interpretações de mundo de Castro e Santos fertilizam essa dramaturgia, erguida a partir da vivência do dramaturgo Anderson Leite (também ator e diretor do espetáculo) na comunidade ribeirinha do Pina, no Recife. Quando a pandemia da Covid-19 fechou tudo, milhares de artistas foram atingidos de imediato, pois foram os primeiros a ficar sem remuneração. Anderson foi um deles. E, naquele momento, sem nenhuma ajuda oficial do Estado, ele voltou a trabalhar com a pesca artesanal de marisco e sururu, atividade da família.
É nesse estágio da grande ferida da pandemia que nasce o texto e as imagens de encenação. Na medula do assombro daquele presente palpita o fato de que, para muitos trabalhadores precarizados, ficar em casa nunca foi uma opção. O trançado do risco real de ir às ruas para não morrer de fome dessas figuras recua ao passado de histórias brasileiras. E entra como fala na peça, de algo que aconteceu e que não finda. “Mais uma vez tive que me arriscar. E esse vírus me tirou o paladar. Fazer o quê, tive que trabalhar. Pois, mesmo sem sentir gosto a família tem que se alimentar”.

No elenco estão Anderson Leite, André Lourenço, Cristiano Primo, Fagner Fênix, HBlynda Morais e Monique Sampaio. Foto: Gabriel Melo / Divulgação
Quando a peça começa, os atores estão amontoados numa escada que vira barco e outras coisas. Ao fundo, um painel estampa o barraco, a favela. No chão, conchas indicam rotas, produzem som, reposicionam a memória. Há resquícios de cheiros de mangue, de maré. É forte, é ancestral.
A iluminação cuida de acelerar a cena, mas em outros momentos retarda. Trabalha feito editor de imagens. Corta, assinala, destaca, faz fantasmagoria, inverte, cria clima, faz drama, faz técnica, manipula nosso olhar.
A dramaturgia se move em oito partes, entre solos e ações coletivas. Abscessos da sociedade são rasgadas nas temáticas que se entrelaçam entre vida e morte, as vidas que importam e os procedimentos de violência para aniquilar o outro. As classes populares que povoam a cena, elas mesmas nas suas misérias reproduzem sistematicamente o machismo e todo o tipo de preconceito contra o próximo – racismo, misoginia, lgbtqifobia, aporofobia, etarismo, etc. alimentando as chagas e não reconhecimento da opressão.
É interessante perceber que nem o dramaturgo nem o grupo optam por pegar leve com sua classe, com as figuras do seu entorno. Eles escancaram no palco as ambiguidades; alguns hábitos de convivência naquela favela inspirada no real, que pode coincidir com muitas outras práticas de pobres e estigmatizados pelo Brasil.
Sim, os pobres podem introjetar os valores que os oprimem. “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor” a frase do educador, filósofo, advogado, professor, pesquisador, pedagogo, pensador, escritor Paulo Freire (1921-1997) é conhecida. Ai, Freire! Como é urgente aprender a fazer leituras de mundos, construindo e acolhendo sujeitos com consciência da realidade.
A cidadania se aprende, a liberdade é uma conquista.
Ao expor o processo de dominação reproduzido naquela quebrada recifense, o espetáculo sacode com fúria a lógica que mantém essa estrutura.
O título da peça aponta quase para um pedido de socorro. Mesmo que lembre procedimentos de lançar mapas de tesouros ou de desejos de falar ao futuro produzidos em romances juvenis, essa garrafa pet se despe de possíveis pompas na formulação imaginária. O material está mais próximo do descartável, mesmo que seja reciclável. E esse fluxo insiste feito uma ladainha.
A força dessas Narrativas se expande no trabalho coletivo. Há uma energia coral. Mesmo assim é possível destacar momentos individuais vigorosos. Um gesto, um jeito de corpo, uma fala, uma agonia, um desespero. Algumas pequenas fragilidades de atuação no trabalho também existem. A dicção de parte do elenco e qualquer traço de melodrama em cenas pontuais são duas delas.
Alfinetar a classe média branca que come ostras em frente ao Acaiaca (prédio à beira-mar em Boa Viagem, no Recife), os versos do poeta performático Miró da Muribeca (1960-2022), pneus, escada, rede de pescar, essas coisas conversam e os próprios atores manipulam os elementos cênicos. Eles citam a bandeira-poema de Hélio Oiticica, Seja Marginal Seja Herói (1968). Entre baculejos e sussurros, eles vão soltando suas verdades inquietantes.
“Qual o problema de eu subir?”, pergunta um deles que tenta subir a escada e é puxado pelos cabelos, pelos braços e pernas, pela camisa. Existe a “lenda do caranguejo” no Recife, que conta que toda vez que um caranguejo tenta subir (na vida) é derrubado por outros. No espetáculo, a sonoridade das conchas marca as puxadelas.

Monique Sampaio numa cena da marisqueira que perdeu o filho de cinco anos baleado pela polícia. Foto: Gabriel Melo / Divulgação
Uma cena terrivelmente tocante chama-se Separando O Sururu da Bucha, quando Monique Sampaio assume o papel de uma marisqueira traumatizada, que flutua entre sanidade e loucura, com a morte do filho de cinco anos, baleado pela polícia enquanto brincava com um graveto. Num estado de oscilante, a personagem comove com suas falas: “Os ‘homi’ num só protege, não, os ‘homi’ mata, barata… matou meu Dinho. Meu pretinho se foi com dois tiros na cabeça… Os ‘homi’ mata!”.
A filósofa Judith Butler já levantou questões biopolíticas com as perguntas: as vidas de quem importam? As vidas de quem não importam como vidas, não são reconhecidas como vivas, ou contam apenas ambiguamente como vivas? Para dizer que “não podemos dar por certo que todos os seres humanos vivos têm o status de um sujeito que é digno de direitos e proteções, com liberdade e um sentimento de pertença política; ao contrário, esse estatuto deve ser assegurado por meios políticos, e quando negado, a privação deve ser manifestada”.
As experiências e elaborações compartilhadas também falam do vínculo de entre criação teatral e realidade social. Em algum momento, alguém ressalta a dificuldade de fazer teatro com fome, não ter dinheiro para a passagem, ou a falta de acolhida por parte de outros grupos estabelecidos. Mas a opção é seguir fazendo arte para espelhar na cena “um bocado de nós, nossa gambiarra”.
Mas o grupo também celebra a resistência e existência de seus pares negros que com arte e cultura fazem suas microrrevoluções. São personalidades do teatro, mas também da literatura, da militância, figuras de projeção nacional e pernambucanas e pernambucanos contemporâneos. Diante de um cotidiano implacável, o São Gens rega as ideias de coletivo para fortalecer a luta.
Ficha técnica
Espetáculo Narrativas encontradas numa garrafa pet na beira da maré
Dramaturgia e encenação: Anderson Leite
Elenco: Anderson Leite, André Lourenço, Cristiano Primo, Fagner Fênix, HBlynda Morais e Monique Sampaio.
Direção musical: Arnaldo do Monte
Figurino: André Lourenço
Cenário e iluminação: Anderson Leite
Operação de luz: Cristiano Primo e Grupo
Adereços: Anderson Leite e André Lourenço
Produtora Cultural: HBlynda Morais
Realização: Grupo São Gens de Teatro
Este texto integra o projeto arquipélago de fomento à crítica, com apoio da Corpo Rastreado.