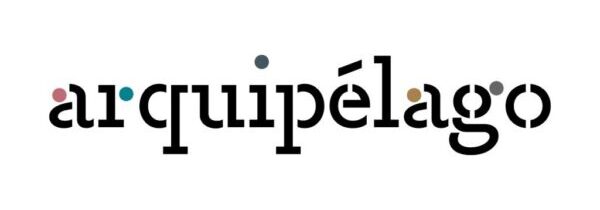Depois de anos de ausência, Luiz volta à casa da Mãe e de Suzana. Foto: Humberto Araújo
 – Boa noite! Entre, seja bem-vindo. Mas não espere ficar muito à vontade. Você pode ser surpreendido com a exposição de uma intimidade que não esperava, desconcertante. Os cumprimentos iniciais aparentam uma suposta formalidade, um distanciamento comedido: “Estou bem. E você, como é que vai você?”. Há, no entanto, palavras que aguardam por serem ditas. Faz anos que estão sendo maturadas. Talvez sejam faladas, num “domingo, evidentemente, ou ainda, ao longo de quase um ano inteiro”, naquele reencontro familiar na casa da Mãe e de Suzana.
– Boa noite! Entre, seja bem-vindo. Mas não espere ficar muito à vontade. Você pode ser surpreendido com a exposição de uma intimidade que não esperava, desconcertante. Os cumprimentos iniciais aparentam uma suposta formalidade, um distanciamento comedido: “Estou bem. E você, como é que vai você?”. Há, no entanto, palavras que aguardam por serem ditas. Faz anos que estão sendo maturadas. Talvez sejam faladas, num “domingo, evidentemente, ou ainda, ao longo de quase um ano inteiro”, naquele reencontro familiar na casa da Mãe e de Suzana.
O espetáculo Apenas o fim do mundo, do grupo pernambucano Magiluth, é um convite para que sejamos testemunhas. Sabe aquela vontade de, às vezes, se transformar numa mosquinha para presenciar como foi aquela conversa, o que teria sido dito, como a pessoa reagiu, o clima que se instaurou? Na montagem do Magiluth, o compartilhamento da intimidade é consentido e, assim como a mosquinha, neste jogo somos voyeurs, observadores do que acontece à nossa revelia, como se não estivéssemos ali, não fôssemos notados, algo incomum na trajetória do grupo em relação aos espectadores.

Suzana (Bruno Parmera) e Luiz (Pedro Wagner). Foto: Annelize Tozetto
Estamos à porta e somos chamados a entrar e a acompanhar a volta de Luiz, um escritor, filho mais velho da família, que saiu de casa há bastante tempo. A Mãe e os irmãos, Antonio e Suzana, permaneceram. Há também Catarina, esposa de Antonio, que o cunhado só viria a conhecer nessa visita. Luiz nunca tinha voltado, mas agora havia um motivo concreto para o retorno. O escritor queria anunciar que, “mais tarde, no ano seguinte – era a minha vez de morrer”.
Ao longo dos anos, o primogênito, que “nunca esquecia as datas importantes das nossas vidas, os aniversários, fossem quais fossem”, mandava “pequenos bilhetes”, lacônicos, que vinham “sempre escritos em cartões postais”: “Eu estou bem e espero que vocês também estejam bem”. Uma frase que não gera nem ao menos uma expectativa por ser respondida.
Há, portanto, um hiato complexo que abarca dimensões múltiplas que se entrecruzam –tempo, relações, desejos, frustrações, ausências, acusações – para ser descortinado neste reencontro. O texto do francês Jean-Luc Lagarce, dramaturgo e diretor, escrito em Berlim em 1990, e montado pela primeira vez em 1999, quatro anos depois de sua morte, escolhe conceder o foco a cada personagem por vez, promovendo mergulhos verticais em suas subjetividades. Quando decidem falar, em poucos minutos, vislumbramos o que dói, como dói, por que dói. São conversas que se estabelecem geralmente como solilóquios, já que uma das pessoas, Luiz, se coloca como alguém que escuta o que a outra tem a dizer. São discursos longos, com diminutas pausas, quase que para confirmar que o interlocutor ainda está ali, disponível à escuta. Cada fala é um jorro, um fluxo de pensamentos que nos enovela.

Em Curitiba, as sessões de Apenas o fim do mundo foram no Palácio Garibaldi. Foto: Humberto Araújo
Quanto a nós, espectadores, somos desafiados a estar presentes na escuta para não perdermos uma palavra, uma digressão, um instante de hesitação, enquanto esses personagens se esvaziam ao menos do discurso que carregaram por tanto tempo. Terão como resposta um “sorriso” ou “duas ou três palavras”. “E eles se lembrarão, mais tarde, a seguir, na sequência, à noite adormecendo, eles se lembrarão apenas desse sorriso, é a única coisa que vão querer guardar de você, e é esse sorriso que eles vão discutir e discutir de novo”.
Nessa torrente, há um passado idealizado que, diante do correr dos anos, nem sabemos se aconteceu exatamente daquele modo, se era mesmo feliz. É assim, por exemplo, na cena da mãe contando o passeio que a família fazia aos domingos. Quem não tem uma avó, um pai, uma tia, que reconta a mesma história seguidas vezes, como se de alguma forma a lembrança fosse capaz de se materializar? Até que essa lembrança vira melancolia pelo que foi e já não é mais, “como é que podemos saber como tudo desaparece”.
Em consonância com a idealização do passado, a ausência desemboca no desconhecimento e na imaginação. Depois de tantos anos, aquelas pessoas não se conhecem mais, não sabem mais quem são e quais serão suas reações diante do inesperado da realidade do outro. “Ele não muda, eu imaginava ele exatamente assim, você não muda, ele não muda, é assim que eu o imagino, ele não muda, o Luiz”.
São família, são estranhos entre si. Assim como na balada Hello stranger (coloque aí para ouvir no seu tocador de música!) de 1961, da norte-americana Barbara Lewis, que faz parte da trilha sonora, sempre especial nas peças do Magiluth, mas aqui em particular, pelos achados que são dramaturgia. “Hello, stranger. It seems so good to see you back again. How long has it been? Oh, seems like a mighty long time” ou, em português: “Olá, estranho. É tão bom vê-lo novamente. Quanto tempo se passou? Oh, parece ter passado um longo tempo”.
A relação familiar se organiza em torno da matriarca, a única personagem que não tem nome, descrita apenas como a Mãe, como se a sua subjetividade estivesse restrita ao papel materno, encarado de modo coletivo. A quem serve a máxima ‘mãe é tudo igual’? Aqui a Mãe medeia os conflitos, prevê o que vai acontecer, mas não se coloca como autoridade, deixando entrever a sua fragilidade diante do que se desenrola ao redor. “Eles vão querer te explicar e é provável que o façam, e sem jeito, o que eu quero dizer, porque eles vão ter medo do pouco tempo que você dá para eles, do pouco tempo que vocês vão passar juntos”. Uma das cenas mais tocantes do espetáculo é justamente a conversa entre a Mãe e Luiz, quando ela tece uma radiografia precisa da realidade íntima daqueles personagens, dos seus anseios e frustrações. “O que eles querem, o que eles queriam, talvez, é que você os encorajasse – não foi sempre isso que faltou para eles, que a gente os encoraje?”.

A conversa entre a Mãe (Erivaldo Oliveira) e Luiz (Pedro Wagner). Foto Humberto Araújo
Talvez uma das principais qualidades do texto de Lagarce, que é brilhante e aqui o adjetivo cabe sem receios, é que o dramaturgo consegue experimentar a oralidade ao limite, encadeando longos textos de cunho pessoal, íntimo, psicológico. As frases são entrecortadas por tempos verbais distintos, pensamentos que vão se justapondo, que podem ser interrompidos e retomados instantes adiante, logo que eu terminar de falar uma coisinha que lembrei e quero dizer e talvez faça sentido ser dita aqui, assim como se dá numa situação cotidiana. Mas quando isso é levado ao teatro, à efemeridade da experiência única, esse texto se mantém e ganha proporção pela consistência e qualidade para ser compreendido em sua integralidade, proposta desta dramaturgia especificamente.
E esse foi o principal desafio com o qual o Magiluth se deparou: o rigor na enunciação que o texto demanda. O cuidado com as palavras, com os seus significados, sua ordem de encadeamento, com o modo e o tempo no qual elas precisam ser ditas. Foram poucas as montagens nas quais o Magiluth se dedicou a um texto dramático previamente escrito, levando-o tal e qual como escrito ao palco: O canto de Gregório, de 2011, texto de Paulo Santoro, e Viúva, porém honesta, de 2012, em comemoração ao centenário de Nelson Rodrigues. Mas, em ambas, especialmente em Viúva, porém honesta, o registro da encenação, que era o do humor, o do sarcasmo, da ironia, não demandava exatamente rigor na enunciação da dramaturgia.
Nas outras montagens do repertório, textos dramáticos foram utilizados como disparadores para o processo artístico, como em Dinamarca, de 2018, releitura de Hamlet, e Estudo nº1: morte e vida, a partir de Morte e vida severina, ou os atores criaram as dramaturgias a partir de outras referências, mas o trabalho coletivo na sala de ensaio, contemplando inclusive propostas e desejos individuais, sempre foi mais determinante na elaboração dos textos, escritos em processo e, talvez por isso, mais livres de amarras.
Apenas o fim do mundo estreou em abril de 2019, depois de quase um ano de momentos imersivos, entrecortados por meses de distância, de residências artísticas com Giovana Soar, tradutora do texto do francês para o português, atriz à época da companhia brasileira de teatro, primeiro grupo a montar a dramaturgia no país, no ano de 2006; e com Luiz Fernando Marques Lubi, diretor parceiro do grupo desde Aquilo que o meu olhar guardou para você, em 2012, um dos artistas que mais conhece e se alinha com a dinâmica do grupo. Depois de Apenas o fim do mundo, Lubi assinou ainda a direção de Estudo nº1: morte e vida, que estreou em 2022.
Esses momentos com os dois amigos e artistas colaboradores, que assinam conjuntamente a direção da peça, geralmente eram marcados por oficinas e resultavam na apresentação de ensaios ao público, um processo recorrente no Magiluth: a abertura dos trabalhos aos espectadores antes que eles possam ser tidos como “prontos”. No Sesc Avenida Paulista, por exemplo, dias antes da estreia, os oficineiros puderam acompanhar o trabalho de mesa dos atores, de leitura do texto, de entendimento do modo de enunciação que a dramaturgia solicitava.
Esse encontro entre o grupo, Giovana Soar e Lubi era o que o Magiluth precisava para erguer a lindeza que é Apenas o fim do mundo, em toda sua humanidade, delicadeza e proximidade com o espectador. Veio de Giovana Soar o rigor no entendimento e na enunciação do texto de Lagarce e o convite ao espaço íntimo proposto por essas palavras. E de Lubi, com quem o grupo tem a intimidade dos anos de trabalho conjunto, vieram a experiência e a sagacidade com montagens site-specific, amealhada desde a criação do XIX, grupo do qual Lubi é um dos fundadores.
Neste tipo de espetáculo, as montagens são criadas ou se adaptam a lugares que não necessariamente são locais tradicionais de exibição de peças, como teatros. Essas obras dependem da interação com os espaços para que possam alcançar suas potências. No caso do Magiluth, a ideia é que o espectador experiencie esse reencontro entre Luiz e sua família no espaço proposto pela dramaturgia, uma casa. Parte da intimidade que a encenação propõe com o espectador vem do espaço cênico: vamos andando pelos cômodos da casa, acompanhando como se dá cada conversa. No entanto, mesmo assistindo a tudo de muito perto, estando nas bordas da cena, somos voyeurs (a mosquinha, lembra?), não participamos da cena, e por isso o distanciamento, como se não estivéssemos ali.
Em 2019, a peça estreou no 13º e no 14º andares do Sesc Avenida Paulista, em São Paulo. Apesar de toda a engenhosidade da divisão de cômodos e da cenografia, da beleza da vista da Paulista, mesmo que a encenação fluísse, havia uma compressão. Eram espaços às vezes apertados demais para muitas pessoas assistirem a cenas longas. E era preciso imaginação para visualizar uma casa. No Recife, ainda em 2019, o espetáculo foi apresentado no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) e o próprio grupo diz que aquele espaço era o ideal para a peça e que a cena da chegada de Luiz ganhava outra dimensão tendo como vista a Rua da Aurora, o Rio Capibaribe e, ao fundo, a Rua do Sol.
Em Curitiba, a peça ocupou o Palácio Garibaldi, um lindo casarão cuja construção começou em 1887, hoje conhecido como “a casa da cultura italiana em Curitiba”. Ali, o espaço abraçou a encenação, mesmo com todos os deslocamentos necessários, estávamos numa casa, que se não tinha uma geladeira amarela como nas versões anteriores, ostentava um fusca azul na garagem que serviu para uma discussão icônica que terminou com Catarina, a cunhada, sozinha dentro do carro, com uma impagável cara de paisagem. Fato é que o espaço nos fez viver com mais verticalidade a encenação.
Outra questão que pode ser levada em conta quando pensamos nas diferenças entre a estreia, em 2019, e a participação no Festival de Curitiba, em 2024, com seis sessões esgotadas, é o próprio tempo de maturação da peça. Ainda em 2019, o grupo precisou lidar com as especificidades do espetáculo, que dificultam sua circulação, e depois com a parada obrigatória imposta pela covid-19 a partir de março de 2020. Inclusive, naquele ano, eles estariam no Festival de Curitiba com o espetáculo.
Vivemos o fim do mundo, em escala global. Se, de algum modo, a epidemia de Aids que vitimou Lagarce e que mataria Luiz, “alguns meses mais tarde, um ano no máximo”, era o fim do mundo, a covid-19 levou o fim a níveis que não conhecíamos. E os garotos que estavam na faculdade e que criaram um grupo em 2004, depois de uma atividade para uma disciplina no curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), se tornaram homens, alguns são pais, viveram a pandemia e o medo do fim em múltiplas escalas. As dores sobre as quais o texto fala encontraram outros corpos em 2024.
É fundamental dizer que o Magiluth é um grupo formado por homens e que essa é sempre uma questão no momento de escolher um projeto. Em Apenas o fim do mundo, estão em cena Pedro Wagner (que não fazia a peça desde 2019; na temporada que o grupo cumpriu no ano passado no Mamam, ele foi substituído por Edjalma Freitas), Mário Sérgio Cabral, Giordano Castro, Erivaldo Oliveira e Bruno Parmera. Lucas Torres, o único integrante que não possui personagem na peça, assina a assistência de direção, faz todo o apoio técnico da montagem e ainda faz uma participação, entrando em cena para tocar bateria.
Três dos atores interpretam personagens femininas: Giordano Castro é a cunhada, Catarina; Erivaldo Oliveira é a Mãe; Bruno Parmera é a irmã, Suzana. Mário Sérgio Cabral é o irmão, Antonio; e Pedro Wagner interpreta Luiz. A meu ver, a opção sempre perigosa de ter homens interpretando mulheres deu certo porque eles não fazem caricaturas das figuras femininas ou exageram nos gestos e nos trejeitos das personagens.

Giordano Castro é a cunhada, Catarina. Foto Humberto Araújo

Mário Sérgio Cabral é Antonio, o irmão. Foto: Annelize Tozetto
Nesta montagem, o elenco do Magiluth, como grupo, alcança maturidade na atuação. Pedro Wagner tem o domínio do ofício, faz um Luiz cheio de hesitações, que lida com a sua inabilidade para se contrapor às acusações de abandono, mostrando isso ao espectador a partir da expressão silenciosa do seu corpo. Antonio, de Mário Sérgio Cabral, “há muito tempo, é o que eu acho, eu me tornei um homem cansado”, foi se deixando endurecer pelas responsabilidades, e nos traz nuances entre a raiva e o medo de se permitir amar este irmão. O seu último monólogo é um descarrego, cheio de força e humanidade.
Giordano Castro faz uma Catarina comedida em gestos, de língua afiada e intervenções certeiras que se expressam no corpo. Erivaldo Oliveira é o que talvez mais se apoie no gestual na construção dessa Mãe que lê a todos, que lida com as imperfeições de cada um, inclusive com as suas próprias, e que mesmo assim é afeto. “Ela, ela me acaricia uma única vez o rosto, lentamente, como para me explicar que ela me perdoa não sei bem quais crimes”. E Bruno Parmera é uma Suzana eufórica com o reencontro com Luiz, que nos deixa tontos, mas que tem respiro para se auto traduzir ao irmão.
A maturidade, que é da própria trajetória como artistas, traz o autoconhecimento do que eles gostam e se permitem experimentar em cena. E, por isso, está lá, no meio da peça, uma banda de rock em decibéis altíssimos, como que para mostrar que o espírito, em si, permanece o mesmo de Viúva, porém honesta. Naquela tensão discursiva, é uma catarse que nos surpreende e captura.

De repente, uma banda de rock. Foto: Annelize Tozetto
Ao comemorar 20 anos em 2024, o Magiluth envereda na vivência dessa família com muito mais propriedade. Eles próprios são família, possuem laços, estão criando os filhos nessa comunidade que é um grupo de teatro. E isso é poderoso, na arte e na vida. Quando se tratam, na vida corrente, por “minhas queridas irmãs”, uma herança tchekhoviana que restou de O ano em que sonhamos perigosamente, o espetáculo que talvez seja o mais emblemático para a continuidade do grupo, revelam o afeto construído ao longo de duas décadas que permite projeção de futuro.
O espetáculo Apenas o fim do mundo foi apresentado nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2024 no Festival de Curitiba.
* Pollyanna Diniz escreveu críticas de espetáculos que participaram do Festival de Curitiba a convite do Festival. A crítica foi originalmente publicada no site do Festival de Curitiba.
O grupo de críticos que trabalhou no festival incluiu ainda Annelise Schwarcz, Guilherme Diniz (Horizonte da Cena) e Kil Abreu (Cena Aberta).
Ficha técnica:
Direção: Giovana Soar e Luiz Fernando Marques Lubi
Assistente de direção: Lucas Torres
Dramaturgia: Jean-Luc Lagarce
Tradução: Giovana Soar
Atores: Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Giordano Castro, Mário Sergio Cabral e Pedro Wagner
Técnico: Lucas Torres
Desenho de luz: Grupo Magiluth
Direção de arte: Guilherme Luigi e Luiz Fernando Marques Lubi
Design gráfico: Guilherme Luigi
Realização: Grupo Magiluth

Apenas o fim do mundo em Curitiba. Foto: Humberto Araújo