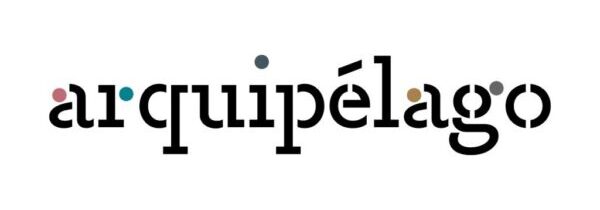Durante infindáveis cinco minutos (ou foram cinco horas ou cinco anos), um grupo de desconhecidos (ou quase) e eu, aguardamos pela chegada de Louis (ou Luiz, como queiram), o filho que partiu 12 ou 14 anos antes, e muito pouco ou quase nada enviou de notícias e afetos para a família. Essa espera pensativa aciona as memórias de cada pessoa, mas também de uma cidade, o Recife. Mesmo que o texto original seja francês, o corpo do Magiluth é recifense e isso transpira, ainda mais quando o site specific, o lugar da encenação, é o Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), que fica na Rua da Aurora, de frente para o Rio Capibaribe, tendo como fundo a Rua do Sol. As portas abertas, os portões de ferro fechados, mas por onde vemos os carros passarem, ônibus e motos também deixam seus rastros nesse quadro. O registro acústico de fora contrasta com o silêncio cúmplice dos que velam. Ouvimos o fluxo do Capibaribe e sentimos a dramaturgia sonora inicial de uma cidade que quase se esquece do seu centro à noite, em contraste com a expectativa de uma plateia pela personagem, que vem anunciar sua morte próxima.
A volta de Louis não segue o script do filho pródigo bíblico; talvez convoque outro mito, de Caim e Abel, em que as disputas e ciúmes ativam mágoas antigas. Antoine, o irmão do meio, que permaneceu “em casa”, não suporta imaginar a vida vibrante de Louis mundo afora, tão diferente da sua própria. Esse retorno desavisado acende sentimentos de ofensa, de inveja, algo aquebrantado, intensificando o conflito doméstico. Não há celebração nem abraços calorosos na chegada; vinga a mudez dos segredos de emoções íntimas e as palavras que quando surgem são explosiva ou devastadoras.
O francês Jean-Luc Lagarce escreveu Apenas o fim do mundo – uma obra de sutilezas e que verticaliza a pulsação humana – em 1990, período em que já estava ciente de seu diagnóstico de AIDS, uma condição que, na época, era praticamente uma sentença de morte. Ele continuou a refinar o texto até 1995, ano de sua morte aos 38 anos. Sua peça proporciona uma delicada e impiedosa reflexão sobre a finitude, algo inexorável, e joga desde o seu título (o desaparecimento de alguém não é o fim do mundo) com as ironias dessa experiência que é viver.
A musicalidade e o ritmo singular do original francês são alimentados na tradução sensível de Giovana Soar, que articula em português as hesitações e repetições, as pausas e frases inacabadas, bem como o embaraço desses titubeios. Essa tradução captura a tempestade de emoções reprimidas e os rancores abafados, sustentados por anos de distância, criando assim uma verdadeira partitura verbal.
A direção de Giovana Soar e Luiz Fernando Marques (Lubi) transforma o texto desafiador de Lagarce em uma experiência teatral imersiva e sensorial que dura aproximadamente duas horas e meia. Como teatro site-specific, a dupla cria um labirinto emocional nos espaços apresentados que equivale à jornada interna das personagens.
No Mamam, o público – limitado a cerca de 60 pessoas por sessão – é convidado a seguir os atores por diferentes ambientes do museu, ajustado para a peça pela direção de arte de Guilherme Luigi e Lubi. A cada nova cena, somos confrontadas com outra faceta do drama familiar. Nessa cenografia dinâmica e reativa, objetos são desarrumados no decorrer da encenação, mesas se partem durante discussões acaloradas, criando um ambiente caótico que reflete o tumulto interno dessas figuras.
A proximidade do público, nesse contexto, é uma escolha deliberada da direção. Essa estratégia visa criar uma intimidade desconfortável que espelha e intensifica a paleta de sentimentos de abandono e desemparo que cada personagem carrega. Ao reduzir a distância física, a produção busca envolver os espectadores de maneira mais intensa, permitindo que eles experimentem as emoções complexas e muitas vezes dolorosas que permeiam a narrativa. Essa proximidade favorece uma conexão emocional mais intensa, na qual cada gesto, expressão facial e nuance vocal dos atores são amplificados.
A iluminação apresenta momentos que oscilam entre tons amarelo-sépia, evocativos de lembranças empoeiradas, e azuis etéreos, que sugerem uma realidade quase onírica. A trilha sonora aprofunda o rasgo melancólico, com uma suspensão desse clima na performance rock da banda que se instala no meio da sala.
Tive a oportunidade de assistir a esta obra teatral quatro vezes: duas no SESC Avenida Paulista, onde estreou em 2019, uma no Mamam no mesmo ano, e agora novamente em 2024, na temporada comemorativa. É gratificante observar o amadurecimento do Magiluth, pois, em termos artísticos, parece ser um processo sempre em construção. Com 20 anos de uma trajetória inspiradora, o grupo reafirma seu compromisso com a arte. Esta peça, tristemente bela, me faz pensar e sentir mais a cada sessão.
Embora o texto de Lagarce tenha sido escrito no contexto da “epidemia do HIV/AIDS” no mundo, dos anos 1990, sua montagem no Brasil em 2019 pelo Magiluth (e sua continuação em 2024) ganha outras camadas de sentido no contexto sociopolítico atual. A menção à extinção do departamento de AIDS do Ministério da Saúde pelo governo Bolsonaro, citada no início do espetáculo, estabelece uma ponte entre o drama pessoal de Louis e questões mais amplas de saúde pública e política. Esta conexão sublinha a relevância contínua da obra de Lagarce e a habilidade do Grupo Magiluth em fazer pulsar o político no teatro.

Catherine (Giordano Castro), encarada por Antoine (Mario Sergio), observado por Louis. Foto: Ivana Moura
Apenas o fim do mundo é uma peça que, perturbadoramente, fala de amor, de forma brutal, desenterrando o que ficou escondido, as recordações, mágoas, ressentimentos e culpas. É uma peça densa e triste, uma beleza melancólica que me toca profundamente.
A vivacidade do jogo físico, característica marcante do grupo, é transposta para o jogo de palavras. O percurso, o deslocamento e a apropriação dos ambientes do Mamam impõem sensações únicas. A conexão com o público está intimamente ligada à experiência de ocupar esses ambientes, potencializada pelo incômodo e desconforto do próprio deslocamento. A visão é fragmentada, variando conforme o ponto de observação.
Essa fragmentação do olhar da plateia projeta as perspectivas diferenciadas de cada personagem, motivadas pela partida de Louis. Assim como o público percebe a cena de maneira parcial, dependendo de sua localização, cada personagem também possui uma visão limitada e subjetiva dos eventos, influenciada por suas emoções e experiências pessoais.
Em Apenas o fim do mundo, o Grupo Magiluth cria um ensemble afinado. Pedro Wagner, no papel de Louis, entrega uma performance de contenção admirável. Há uma gravidade maior na maneira como Pedro Wagner mastiga aquelas palavras em silêncio, para depois cuspi-las. Sua atuação possui uma densidade mais intensa do que em 2019, quando a peça estreou. Naquele ano, estávamos todas assustadas com o pandemônio e sua gangue, que, alguns anos depois, começa a ser desmascarado. A eloquência de Louis é carregada pelo silêncio que pesa fisicamente sobre todos os presentes.
Interpretando a Mãe, Erivaldo Oliveira desafia as convenções de gênero com uma atuação que transmite fragilidade e empoderamento da matriarca. A personagem, única sem nome, conhece profundamente cada um de seus filhos. Sua tentativa de promover a harmonia entre eles é evidente, assim como seu esforço para garantir seu lugar na memória familiar, relembrando os domingos de verões passados nas conversas durante as refeições. Em uma cena delicada, ela explica a Louis que seus irmãos desejam falar e conversar, destacando a justeza de cada um que permaneceu e a necessidade de serem encorajados. O ator navega habilmente entre a aflição e o humor.
Suzanne, a irmã mais nova, é vivida por Bruno Parmera, que a interpreta com uma energia nervosa que beira o frenético. A prosódia do ator traduz a urgência da personagem em conhecer o mundo, na esperança de um dia poder explorá-lo como Louis fez anos antes, e também em expressar sua própria identidade. Seus movimentos são ágeis e entrecortados, refletindo essa inquietação interna. Quando Suzanne encontra o irmão mais velho, ela fala incessantemente, confessando que esse comportamento não é habitual. Essa dinâmica indica tanto sua admiração por Louis quanto seu desejo de se afirmar em um mundo que ainda está descobrindo.
Assumindo o personagem de Antoine, o irmão do meio, Mario Sergio Cabral entrega uma atuação impressionante, um verdadeiro tour de force, onde projeta suas emoções como um vulcão prestes a entrar em erupção. Descrito pela Mãe como um homem de pouca imaginação, Antoine surpreende ao revelar gradualmente seus sentimentos em relação ao irmão. É desconcertante e ao mesmo tempo envolvente observar como ele, com sua rudeza, fala de amor de maneira tão crua e sincera, tornando suas emoções quase palpáveis. Quando Antoine se permite chorar, o público inevitavelmente se comove, derretendo-se diante da vulnerabilidade que ele expõe.
No papel de Catherine, a cunhada, Giordano Castro, fornece uma perspectiva externa vital para a dinâmica familiar. Entre o riso e o escárnio, e sem a memória da infância por não ser parte integrante daquele núcleo desde sempre, o ator investe em pequenos gestos e sutis alterações vocais para expor verdades ditas a meia-voz, revelando as nuances das intimidades daquela família. Casada com Antoine, Catherine navega entre a vergonha dos pequenos escândalos, as explosões temperamentais do marido e a perturbadora presença de Louis, o cunhado cuja chegada abalou o tênue equilíbrio parental. Em meio a esse tumulto, ela se esforça para proteger Antoine, enquanto sugere que guarda cuidadosamente seus próprios segredos.
Mas nessa peça de tantos desafios há sobretudo um domínio impressionante da técnica. Da técnica interpretativa em que os atores, em alguns momentos, saem de suas personagens para cuidar da artesania dos bastidores, à medida que a casa vai se revelando e se distorcendo ao longo do espaço. Este espetáculo exige um rigoroso controle na administração da sequência das cenas. E o maestro dessa operação é o ator Lucas Torres, que atua como contrarregra, garantindo que toda a engrenagem funcione perfeitamente. Há uma camada metateatral, com Lucas Torres dando instruções no início da sessão, percorrendo todas as cenas e aparecendo como o baterista da banda na sala de jantar. Todo o elenco permanece atento ao andamento da encenação e aos seus detalhes, frequentemente oferecendo orientações à equipe de apoio.
A peça se desenrola como uma dança intricada em torno de um vazio central, com cada personagem orbitando em torno da verdade que Louis veio compartilhar, mas que nunca consegue expressar plenamente. Os movimentos se transformam em uma coreografia elaborada de aproximações e afastamentos, espelhando as tentativas frustradas de conexão entre eles. Não há redenção. Com Apenas o fim do mundo, o Magiluth nos incita a ampliar nossas perspectivas de afeto e a ter cuidado com os segredos e com as verdades que criamos.
Leia outras críticas de Apenas o fim do mundo,
a de Pollyanna Diniz Hello stranger
e outra de Ivana Moura Magiluth vasculha política nos laços afetivos
Apenas o fim do mundo
Ficha técnica:
Direção: Giovana Soar e Luiz Fernando Marques Lubi
Assistente de direção: Lucas Torres
Dramaturgia: Jean-Luc Lagarce
Tradução: Giovana Soar
Atores: Bruno Parmera, Erivaldo Oliveira, Giordano Castro, Mário Sergio Cabral e Pedro Wagner
Técnico: Lucas Torres
Desenho de luz: Grupo Magiluth
Direção de arte: Guilherme Luigi e Luiz Fernando Marques Lubi
Design gráfico: Guilherme Luigi
Realização: Grupo Magiluth
O Satisfeita, Yolanda? faz parte do projeto arquipélago de fomento à crítica, apoiado pela produtora Corpo Rastreado, junto às seguintes casas : CENA ABERTA, Guia OFF, Farofa Crítica, Horizonte da Cena, Ruína Acesa e Tudo menos uma crítica