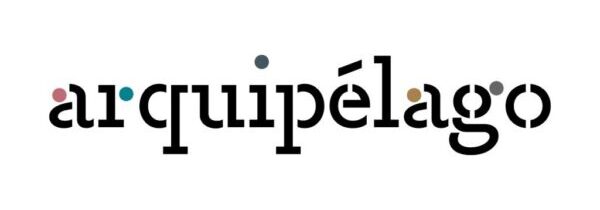Poderia começar esse texto de muitas maneiras. A partir da recepção calorosa do público francês ao Manifesto Transpofágico. Com foco no crescimento da atriz Renata Carvalho desde a estreia da peça em 2019. Pelo que estava fora da cena (e nem tanto), do recrudescimento de atos antidemocráticos no Brasil ao recente horizonte humanitário com a volta de Lula. Por avanços na luta trans, que repercutem no palco. Existem caminhos e escolhas, sem garantias no caso do meu texto.
Poderia começar esse texto de muitas maneiras. A partir da recepção calorosa do público francês ao Manifesto Transpofágico. Com foco no crescimento da atriz Renata Carvalho desde a estreia da peça em 2019. Pelo que estava fora da cena (e nem tanto), do recrudescimento de atos antidemocráticos no Brasil ao recente horizonte humanitário com a volta de Lula. Por avanços na luta trans, que repercutem no palco. Existem caminhos e escolhas, sem garantias no caso do meu texto.
No trecho de um dos vídeos (um dos documentos) do espetáculo, uma frase ficou ecoando na minha cabeça nessa temporada parisiense, talvez porque sintetize a extensão e profundidade da violência contra os corpos trans: “cortei um braço… é pouco; corte o outro… é pouco, corte o pescoço”. É um depoimento de Bartô a Goulart de Andrade e Andrea de Maio, uma reportagem sobre a “Casa da Bartô”, de 1985, em que ela fala sobre aplicação de silicone industrial em travestis e como utilizava automutilação com gilete para defesa quando eram presas por abuso de poder policial.
Manifesto Transpofágico conta breves histórias de violências. Mesmo com cenas tocantes e outras engraçadas, a peça pinta um Brasil agressivo e ameaçador contra corpos trans, de ontem e de hoje. E expõe o quanto o mundo é atrozmente transfóbico. São e serão necessárias mais mudanças e garantias de direitos.
O Brasil se “acabava” no Carnaval 2023, num quase desespero de alegria depois da suspensão da festa pela pandemia e do alívio de se livrar do traste-ruim. Em Paris, pouco afeita aos delírios carnavalescos, no Carreau do Temple, Renata Carvalho, atriz trans militante e transpóloga conduzia sua performance solo e ensinava / alumiava umas coisinhas sobre os malefícios da cisnormatividade, do patriarcado, da exclusão histórica, da hipersexualização, da perseguição e brutalidade contra às pessoas trans.
As duas apresentações do Manifesto Transpofágico, faladas em português com legendas em francês, em sessões lotadas nos dias 20 e 21 de fevereiro, fizeram parte do Festival Everybody 2023.
Renata Carvalho traça um breve panorama da construção social e das representações de mulheres trans a partir da sua própria experiência. De menino saco-roxo, passando pela rejeição dos pais e a transformação do seu próprio corpo, uma invenção à base de desejos inabaláveis e silicone industrial.
Sozinha no palco, usando apenas uma calcinha justa, ela relata a guerra entre seu corpo e os olhares curiosos, inquisidores, desejosos, questionadores, a sempre querer arrancar pedaços simbólicos. Quase no escuro, sua voz anuncia um ajuste, enquanto convida a plateia para a sessão de transpofagia, a mirar – com a ideia de comer e digerir – seu corpo trans. “Meu corpo estava lá antes de mim, quando eu não tinha pedido nada. Ele é mais velho do que eu”, confessa, para destacar que “Hoje resolvi me vestir na minha própria pele”.
Essa pele que ela habita é esquadrinhada pela dramaturgia da iluminação, que retira o rosto dessa moldura. O corpo de Renata está recortado por luz e sombra. Os letreiros luminosos “gritam” obsessivamente a palavra “TRAVESTI”, que saltam do azul ao rosa choque, entre outras cores. As histórias são pesadas, de crueldades e humilhações. Mas ao falar de si, a atriz amplia seu foco para outras vivências semelhantes, para sua ancestralidade trans.
Corpo-desejo que persegue a essência do ser e não aceita as jaulas sociais. Estar em desacordo é ir à luta para se tornar protagonista de sua própria existência. A artista relata esses fatos em palavras simples, em episódios pontuais e compreensíveis, com franqueza, honestidade e coragem.
Corporeidade-história repleta de significações entregue praticamente em estado cru para o escrutínio da plateia. Mas há um preço para isso, cobrado mais sutilmente na primeira parte do espetáculo e mais diretamente na segunda, da consciência da transfobia de cada uma que contempla sua estampa.
Na peça as 3 uiaras de sp city, a dramaturga Ave Terrena Alves avisa, a quem interessar, que as personagens Miella e Cínthia devem ser interpretadas por atrizes travestis / mulheres trans, pelo menos até o ano de 2047. O texto é dedicado às travestis / mulheres trans de ontem e hoje, que lutam para existir.
Cito esse drama musical da Ave Terrena (que esteve em cartaz no CCSP em 2018) porque episódios da perseguição do Estado a homossexuais, travestis e prostitutas nos idos dos anos de 1970 e 1980 são retrabalhados artisticamente na peça. E também pela luta contra o transfake. Renata Carvalho é uma das fundadoras do Movimento Nacional de Artistas Trans- MONART, onde foi criado o Manifesto Representatividade Trans, com o objetivo de garantir que personagens transgénero sejam interpretados por artistas transgénero.
Algo avançou nesse terreno, mas é uma luta constante. Desde a infância é preciso enfrentar uma sociedade transfóbica, que faz um jogo canalha de glamourizar, capitalizar narrativas e até matar real ou simbolicamente. No Brasil isso ganha uma proporção gigantesca, já que o país lidera vergonhosamente o percentual de assassinatos, 40% do total mundial de pessoas trans. Há também o número alto de suicídios, por rejeição da família, dificuldade de sobrevivência, insegurança de toda ordem.
Para existir é preciso que as histórias não sejam apagadas, que elas sejam contadas e recontadas. E Renata vale-se de arquivos documentais para fazer uma leitura crítica da trajetória cultural das travestis brasileiras. Sua transcestralidade que reconhece muitas que vieram antes, como Rogéria, Roberta Close e muitas outras.
O lugar social que ela ocupa é fortalecido por sua atuação como transpóloga, uma rama da antropologia que ela mesma criou, um estudo científico, teórico, etnográfico, epistemológico e empírico sobre sua “Transcestralidade” – uma antropologia trans, uma travesti que estuda o corpo travesti/trans, sua historicidade, transcestralidade, identidade, memória com foco nas artes.
Seu teatro é vivo e pulsante, humanamente imperfeito, com cargas da sujeira feito o rock, longe de qualquer ideia de alta cultura, beleza e bom gosto cis. Suas peças, como suas pesquisas, são atravessadas por reflexões e vivências da vida que reverberam no palco. Isso desde o questionamento da identidade de gênero em 2012, com espetáculo Em mim vive outra. Passando pela complexa e tumultuada atuação em O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, um texto de Jo Clifford, onde interpretava Jesus de Nazaré. Como o Evangelho veio a projeção, reconhecimento, mas também proibições, censuras, violações de direitos, ações judiciais, ataques, ameaças de espancamento e morte, linchamentos virtuais e a manifestação brutal de ódio contra o corpo travesti.
A segunda parte do espetáculo é na plateia. É o jogo direto com o espectador, performance ardente e cada sessão é única, depende das respostas, das disponibilidades dos depoimentos. Renata Carvalho pergunta sobre a relação estreita daquele grupo com o corpo, grau de conhecimento e afetividade, se existe alguém na família, como é a relação.
Ao fazer uma enquete com a plateia para saber quantos homens cis já ficaram publicamente com uma pessoa trans, a atriz desenvolve uma sequência lógica para dar o xeque-mate na fragilidade cisgênera. Do medo de perda de potência, do receio de virar o que não é e outras geleias na subjetividade.
Essa segunda parte da peça Manifesto Transpofágico é sempre surpreendente, é uma energia viva a questionar as violências da genitalização do gênero. Como já pontuou Dodi Leal, uma artista gênero-desobediente, a definição de mulheridade não é vaginal; a definição de masculinidade não é fálica.
Nas turnês ao exterior, a produção da corpo Rastreado procura convidar uma travesti do local. No caso de Paris a tradução ficou por conta de Vânia Vênus Munhoz Pereira.
Aqui vale um parêntese: Vânia Munhoz é uma brasileira radicada na França há 34 anos. Parte de sua história está no livro Ricardo e Vânia, de Chico Felitti, publicado pela editora Todavia. Ricardo, que virou uma lenda urbana e circulava pela região das ruas Augusta e Paulista, no centro de São Paulo, trabalhava na distribuição de panfletos, era conhecido como Fofão da Augusta. O destino dessas duas figuras se encontrou nos anos 1980, quando elxs moraram juntes e aplicaram silicone na face. Ricardo morreu em 2017 depois de falar por videoconferência com o amor da sua vida. Interessados em saber mais dessa história, o livro está disponível nas livrarias e já tem os direitos comprados para virar filme.
Nessa tradução ao vivo, a atriz pergunta ao público e depois dá sua explicação de alguns termos, como cisgênero (“Se você não sabe o que isso significa, com certeza você é!” ) ou “passável”. Na primeira apresentação, incentivados pela artista, algumas pessoas deram seu depoimento da experiência de ter alguém trans na família.
Na sessão do segundo dia alguém respondeu que havia diferenças na acepção da palavra travesti no francês e em português. Bom de qualquer forma o público que acompanhou o festival é não desavisado. Se o médio francês já é bem sabido, o que opta por ir a um evento LGBTQIA+ já está bem-informado dos estudos de gênero No primeiro dia, por exemplo, Renata conheceu uma jovem pesquisadora que faz mestrado sobre o seu trabalho cênico.
Os franceses não toparam passar a mão no corpo da Renata. A atriz reforçou seu discurso sobre a consciência de que o corpo das mulheres, das trans, das travestis, o cabelos dos negros, a barriga das gravidas não são mercadorias para se pegar e apalpar num impulso, sem autorização.
Os parisienses estão numa classe mais adiantada. Além disso, ao que parece, os franceses são treinados desde a infância a serem palestrantes, eles têm argumentação para tudo. E os registros do preconceito na gramática, nos hábitos dos países de primeiro para outros subdesenvolvidos mudam. Sutilezas e ironias. Sigamos.
Renata Carvalho é uma presença perturbadora, a atravessar os rumores da língua, a dizer de condições a que foram/são submetidos corpos com o seu pela sociedade. Um solo para rodar o mundo.
Com Renata Carvalho
Luz: Wagner Antônio
Direção: Luiz Fernando Marques
Vídeo: Cecília Lucchesi
Tradução: Vânia Vênus Munhoz Pereira
Operação de luz: Juliana Augusta
Produção: Corpo Rastreado
A segunda edição do Festival Everybody durou cinco dias, de 17 a 21 de fevereiro de 2023, no Le Carreau du Temple, em Paris, um evento que juntou propostas artísticas que pensam e movimentam o corpo, questionando estereótipos de várias naturezas. Além dos espetáculos, o Everybody contou com aulas de dança e de bem-estar, instalações de arte contemporânea e encontros para públicos variados.
Além do Manifesto Transpofágico, destaco três espetáculos. A ousadia estética de Onironauta de Tânia Carvalho, a alegria festiva em Happy Hype, dos Ouinch Ouinch x Mulah e a delicadeza de uma dança de cuidado em Formes de vie, do coreografo Éric Minh Cuong Castaing.
A coreógrafa e bailarina portuguesa Tânia Carvalho é internacionalmente conhecida por suas ousadias e desassossego com os muros erguidos entre linguagens artísticas. Quando quer, flerta e namora com a música, artes visuais e cinema. Título do trabalho de Tânia Carvalho, Onironauta (do grego óneiros, sonho + náutés, navegante) é uma pessoa que pode permanecer em um estado de consciência enquanto sonha. Dessa maneira, é capaz de se mover dentro dos sonhos como se fosse a própria realidade, conhecido como “sonho lúcido”.
Em cena, dois pianos tocados por Tânia e o pianista Andriucha e mais sete bailarinos. Esse estado dos sonhos tem muito de surreal, imagens de abismos e visão do paraíso. Navegamos entre luz e a escuridão. por um percurso estranho, desenhos desconcertantes. A provocação estética está embaralhada de vocabulário clássico e outras danças identificáveis ou não um tsunami de movimentos que desafiam as ideias de beleza. Há uma repetição bem-humorada, quebras e invasão estridente dos pianos. Sonhos estranhos fantasmagóricos e cheios de fúria.
Mulah comanda o som eletrizante de músicas afro e hip-hop na peça Happy Hype, com o coletivo OUINCH OUINCH, que se instalou no grande salão do ginásio. No plateia crianças, jovens famílias inteiras. No palco, o grupo a exercita a liberdade dos corpos que se encontram e se agarram na pista, que se abraçam e fazem coreografias insinuantes. Um chamamento de uma energia coletiva, que se transformou em festa no final.
O trabalho assinado pelo designer, coreógrafo, diretor Eric Minh Cuong Castaing desenvolve um sensível processo entre o mundo do cuidado e o mundo da arte. Forma(s) de vida, uma peça em que corpos com problemas de mobilidade e corpos performáticos se combinam para realizar uma dança própria.
Kamal Messelleka, um ex-boxeador, que perdeu a força das pernas após um derrame, e Elise Argaud, que sofre da doença de Parkinson, tem a memória de seus corpos reativada. No palco estão Yumiko Funaya, Aloun Marchal, Nans Pierson.
As projeções de vídeos das caminhadas na natureza, ou dos exercícios de fortalecimento expõem as dificuldades, as dores, a insistência. E brota um poder estético nesse tentar, e falhar, e tentar de novo, um desenho, um arco, uma pulsação.
Com o auxílio dos coreógrafos como próteses humanas, o ex-boxeador e a bailarina ampliam os movimentos, criam uma poética, expressam um jeito de estar no mundo. O tempo é expandido na repetição, no ralentar do gesto. A força de criar arte se apresenta na esteira de um profundo respeito à vida.