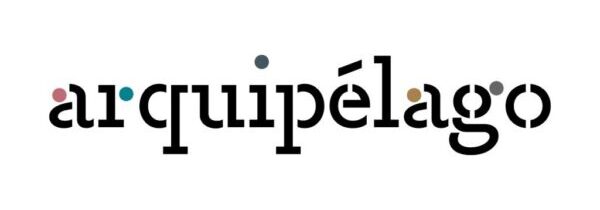Atriz Augusta Ferraz é homenageada do 24º Festival Recife do Teatro Nacional. Foto: Rogério Alves/ Divulgação
Augusta Ferraz esculpe o tempo que habita. Sagaz, irônica, combativa e corajosa, ela carrega em si um humor peculiar e inteligente que tempera cinco décadas de resistência cultural. Aos 68 anos e com 52 anos de carreira ininterrupta, a artista participou ativamente das transformações do teatro pernambucano, foi protagonista de muitas delas, ajudou a edificar instituições e nunca permitiu que as adversidades a retirassem de cena. Como escreveu a poeta polonesa Wisława Szymborska em Filhos da época: “Somos filhos da época e a época é política”. Augusta compreendeu que cada espetáculo, cada palavra no palco, cada silêncio ressoa politicamente no mundo. Sua relação com as artes cênicas se definiu logo na estreia. Durante Jesus Cristo Superstar, em 1973, no Teatro Santa Isabel, um prego atravessou seu dedo do pé. A dor era intensa, mas ela continuou interpretando a crucificação de Cristo, entendendo ali que “o espetáculo não podia parar” – lição que carrega até hoje.
Em quase sete décadas de vida, Augusta acumulou experiências que caberiam em várias biografias. Sobreviveu à ditadura militar, foi presa numa blitz policial em 1986, enfrentou violências silenciadas, faliu financeiramente, se reergueu e recomeçou. Militou pela criação da Federação de Teatro de Pernambuco, lutou por políticas culturais, denunciou o fechamento de teatros da cidade e nunca baixou a guarda diante da precariedade que assola as artes cênicas.
Reinventar-se sempre foi sua marca. Atriz, dramaturga, diretora e produtora, Augusta transita entre linguagens com a desenvoltura de quem domina seu ofício. Do teatro partiu para o cinema com Amores de Chumbo (2016), de Tuca Siqueira, depois para a televisão como Dona Berenice em Guerreiros do Sol, novela da Globo de 2025. Entre seus quase 80 espetáculos, construiu uma técnica própria que ela mesma não consegue definir: “Alguém escreverá sobre isso depois que eu morrer”, diz com o humor ácido que matiza sua intensidade.
Agora, homenageada pelo 24° Festival Recife do Teatro Nacional ao lado de Auricélia Fraga, Augusta traz Sobre os Ombros de Bárbara, com direção de José Manoel. O espetáculo, escrito em parceria com Brisa Rodrigues e vencedor do Prêmio Ariano Suassuna de dramaturgia, estreia nos dias 29 e 30 de novembro no Teatro Santa Isabel. A obra entrelaça sua própria história com a de Bárbara de Alencar, primeira presa política do Brasil – e tataravó de Augusta. O título aponta para uma filosofia: todos estamos sobre os ombros de quem veio antes, e serviremos de ombros para quem virá depois. Augusta está sobre os ombros de Bárbara, como esteve sobre os de sua mãe, e outras artistas estarão sobre os seus.
Na entrevista a seguir, Augusta Ferraz fala sobre esse novo trabalho, reflete sobre cinco décadas de teatro e analisa com sua habitual sagacidade a situação cultural do Recife. Entre memórias dolorosas e conquistas celebradas, ela oferece um panorama único do teatro brasileiro visto por quem nunca abandonou o palco – mesmo quando tudo conspirava para que isso acontecesse. É a voz de quem esculpe o próprio tempo e agora o compartilha com ironia, coragem e a clareza de quem sabe que cada gesto no palco ecoa no mundo.
“Quem tem a felicidade de experimentar,
não deixa de ir ao teatro nunca”
ENTREVISTA: Augusta Ferraz

Augusta Ferraz, homenageada do 24º Festival Recife do Teatro Nacional. Foto Rogério Alves / Divulgação
SATISFEITA, YOLANDA? – O que a inspirou a criar o espetáculo Sobre os Ombros de Bárbara e a trazer a história de Bárbara de Alencar para os palcos?
AUGUSTA FERRAZ: Coragem. Muita coragem, né? Porque tentar montar espetáculos hoje de maneira mais profissional é muito complicado, muito difícil. Por mais que a gente lute, continuamos sendo o cu do mundo.
SATISFEITA, YOLANDA? – Mas por que Bárbara? O que a motivou a falar sobre essa figura histórica?
AUGUSTA FERRAZ: Porque eu sou tataraneta do irmão de Bárbara, que lutou junto com ela em todas essas guerrilhas. Era o irmão mais novo da família. Miguel Arraes é descendente da irmã mais velha de Bárbara, Inácia. Só para citar, para vocês entenderem do que estou falando.
Então, Leonel Pereira de Alencar lutou nas mesmas questões que Bárbara, era companheiro dela nessa luta junto com os filhos. Desde criança eu escuto esse nome, de vez em quando se falava dela na família – fui criada na família da minha mãe. Fui crescendo com essa criatura, essa figura dentro de mim. Uns 20 anos atrás, comecei a pensar em montar um espetáculo sobre Bárbara de Alencar. Em 2022, eu decidi. Conversei com José Manoel – era uma oportunidade de trabalhar com ele, porque ele havia saído do SESC e tinha a agenda mais aberta. Quando ele topou e começamos, ele entrou na Fundação de Cultura. Mas continuamos, estamos trabalhando desde 2022 nesse processo.
“Bárbara é a primeira presa política do Brasil
– oficialmente, a primeira mulher presa por causa
de política. Comeu o pão que o diabo amassou”
SATISFEITA, YOLANDA? – Nesse processo de criação da peça, quais aspectos da vida e da luta de Bárbara você decidiu levar para a cena? O que mais a impactou na trajetória dessa mulher?
AUGUSTA FERRAZ: As pessoas não conhecem, não sabem a história de Bárbara. Muita gente não sabe do que se trata. Espero que o espetáculo, essa homenagem do festival, faça com que se fale um pouco sobre isso e que as pessoas se atentem mais para nossa história. Porque, afinal, a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, a Convenção de Beberibe – tudo isso foi o ponto de partida para virarmos República, mesmo que tenha demorado 60 anos para chegarmos lá. No Brasil se fala muito sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu 100, 150 anos antes e cujo embrião não era realmente uma república, mas a questão dos impostos e a ligação com Portugal, que mandava e levava toda a riqueza material.
Essa Revolução Pernambucana traz outra discussão: tem a questão dos impostos, mas principalmente a de transformar o Brasil em República. Naquele momento, toda a América Latina já era República, e o Brasil continuava preso a uma coroa europeia.
Voltando à pergunta… basicamente é pegar uma mulher de 57 anos, fazendeira – comerciante, ela comerciava com plantação e agricultura. Tinha escravos, tinha terras, era rica e trabalhava. Era uma empreendedora, cuidava daquele negócio todo, daquela família toda. Era a cabeça da família Alencar quando essa família ainda estava estruturada ali por Exu, pelo Crato, não tinha se espalhado ainda. Acho Bárbara impressionante na força dela, uma força sertaneja, daquele ideário de mulher forte que luta no dia a dia. Naquela época, mesmo sendo rica, as pessoas trabalhavam duro para viver. Não tinha eletricidade, água, carro – era cavalo, carro de boi, carregar água. Era outro tipo de vida.
O sertão é uma coisa que me impressiona muito. Minha família é sertaneja por um lado – do meu avô, pai da minha mãe, para trás, é tudo sertanejo. Minha mãe nasceu em Limoeiro e veio para a capital pequena ainda. Essas questões do Nordeste, do sertão, das mulheres que lutam e são fortes, me impressionam.
Bárbara é a primeira presa política do Brasil – oficialmente, a primeira mulher presa por causa de política. Comeu o pão que o diabo amassou. Saiu de cavalo do Crato para Fortaleza, de Fortaleza para o Forte das Cinco Pontas, depois para a Casa da Torre em Salvador. Foram quatro anos de prisão, depois voltou, fez o mesmo percurso. Uma mulher de 57 anos.
Isso afetou muito a saúde dela – a minha também ficaria acabada. E no meio dessa confraria de homens, uma mulher à cabeça de um movimento. Não aqui no Recife, mas lá no Crato. É impressionante ela ter assumido essa postura naquela época.
SATISFEITA, YOLANDA? – Fale sobre o processo de construção do espetáculo. A dramaturgia é sua, em parceria com Brisa Rodrigues, correto? Como foram essas escolhas dramatúrgicas e qual é a proposta de encenação?
AUGUSTA FERRAZ: São três anos em cima dessa história. Sobre a dramaturgia, quando chamei José para trabalhar, ele me apresentou a Brisa. Ela estava em Petrolina, vinda do Rio de Janeiro, terminando o mestrado sobre vozes femininas na política brasileira e na formação do Brasil. Estava estudando Dilma Rousseff e Bárbara de Alencar – juntamos a fome com a vontade de comer. Comecei a adquirir livros raríssimos, consegui textos que nem sei como. Ficava passando para Brisa, trabalhávamos online, líamos e conversávamos muito. Brisa tem o dom da escrita, eu tenho o dom da palavra, e juntas temos o dom da inteligência e de articular pensamentos. Passamos cerca de um ano escrevendo, aí dei uma parada porque comecei a ficar doente. Chegamos num ponto em que não dava mais para trabalhar só por amor e desejo – tem que ter dinheiro também. Começamos a fazer projetos, editais de incentivo, conseguimos a Lei Paulo Gustavo, o Multicultural da prefeitura. Com a verba, juntei todo mundo e começamos a trabalhar firme em junho. Cada dia é uma coisa enlouquecedora.
SATISFEITA, YOLANDA? – Vocês ganharam um prêmio de dramaturgia com esse texto, o Prêmio Ariano Suassuna, não é?
AUGUSTA FERRAZ: Ganhamos o Prêmio Ariano Suassuna com essa dramaturgia. É claro que o texto vem sofrendo mudanças por conta da encenação. É muito bom trabalhar com um diretor aberto para esse convívio com a dramaturgia, que está disposto a retrabalhar o texto no espaço de ensaios. Como sou uma das autoras, posso mexer no texto. Quando mexia, mandava para Brisa e conversávamos. É um processo muito bom, muito bonito, muito novo. Acho que trabalhei apenas duas vezes dessa maneira na minha vida, mas é um processo excelente.
“O espetáculo tem a palavra de Bárbara e a palavra de Augusta.
Augusta fala sobre Bárbara e sobre Augusta, sobre o movimento
teatral no Recife e sobre a falta de casas de espetáculo…”
SATISFEITA, YOLANDA? – De que forma você acredita que essa história de Bárbara, uma revolucionária que viveu entre 1760 e 1832, dialoga com o Brasil de hoje?
AUGUSTA FERRAZ: Tudo. Veja: uma luta para se tornar República. Hoje somos uma República plena? Não, ainda estamos em processo, como se estivéssemos engatinhando. Com todos os processos e estudos que a população brasileira já passou e passa, ainda estamos discutindo isso seriamente. República pressupõe um espaço para todos, de convivência e vida relativamente agradável, sem tanta escravidão. Mas o processo brasileiro fica cada dia mais difícil. O país foi rachado ao meio, o que acho positivo em parte, porque a direita hoje se pronuncia plenamente, aos gritos. Nada se esconde mais, o jogo está muito aberto. Claro que ainda há coisas feitas na calada da noite, mas está muito explícito.
SATISFEITA, YOLANDA? – Você explora também as contradições da própria Bárbara, como o fato dela ter sido uma escravagista?
AUGUSTA FERRAZ: O tempo inteiro. No início do espetáculo, ela é anunciada como dona de terras, de escravizados, comerciante, viúva, mulher que nasceu sob os auspícios de Santa Bárbara. Fica claro. Não há defesa de que Bárbara não era isso. Durante o espetáculo falamos sobre essas contradições. Bárbara é uma figura do seu tempo – século XVIII, início do XIX – quando a escravidão era a base econômica do país. Mas ela tinha lutas revolucionárias para aquela época: a luta por uma República. A fundação do Partido Liberal, em 1830, da qual Bárbara era membro, foi criado para libertar o Brasil de Portugal e criar a República. O partido foi criado para igualar a luta de todas as pessoas. Em princípio, das elites econômicas… É raro ver uma revolução que sai do seio do povo.
“Já que há uma prioridade em reformular a estrutura da cidade do Recife,
se há essa vontade, então por que não se estende às casas de espetáculo? Gerar pequenos espaços de 100, 150 lugares…”
SATISFEITA, YOLANDA? – O espetáculo estreia dia 29 de novembro, dentro do festival. Depois disso, quais são os planos de circulação? Vocês já têm estratégias para levar a peça a outros espaços?
AUGUSTA FERRAZ: Tínhamos planos, temos que fazer apresentações por conta das exigências do edital. Mas é impressionante. Não existe pauta nos teatros do Recife para mais de três apresentações. Três! Não existe pauta. Essa é uma discussão que também levamos para o espetáculo, porque ele tem a palavra de Bárbara e a palavra de Augusta. Augusta fala sobre Bárbara e sobre Augusta, sobre o movimento teatral no Recife, sobre a falta de casas de espetáculo. Pouquíssimas casas de espetáculo. Casas sendo fechadas, incendiadas, derrubadas pelas próprias prefeituras da Grande Recife. Barreto Júnior no Cabo, Paulo Freire em Paulista – foram derrubados pela prefeitura sem justificativa. Se não fosse a população de artistas de Paulista nessa luta, Vinícius Coutinho muito envolvido nisso, não estaria agora na tentativa de reerguer aquela casa de espetáculo. Os teatros daqui: o Teatro da Fundação Joaquim Nabuco vira cinema, deixa de ser teatro. O Valdemar de Oliveira é incendiado – incêndio criminoso e depredação que se arrasta há anos. O Teatro do Derby foi fechado pelo quartel, que na verdade é o Estado, que na verdade é a população. A polícia decidiu fechar porque não quer mais gente de teatro ali. Hoje é depósito e local de reuniões religiosas. Aqui estamos no Barreto Júnior. O cuidado da gestão é muito bom – teatro limpo, palco cuidado, ar-condicionado, material de cena. Mas se você for na plateia, algumas cadeiras estão quebradas. Cadê a prefeitura para consertar? Vai esperar que o teatro gere dinheiro e se autoconserte?
Eu fui a primeira pessoa a ir para a praça pública questionar o que aconteceria com o Teatro do Parque, que estava há dez anos fechado. Hoje está aberto, mas não consigo pauta nem para leitura de texto dentro de um camarim. Não tem pauta. Porque também ainda tem as bandas e as orquestras dentro dos teatros, que também ocupam os espaços do teatro. Aí eu não estou fazendo uma análise se isso é bom ou ruim – o que eu estou analisando é a falta de espaço.
Seria interessante também que as bandas e a orquestra sinfônica tivessem o seu próprio espaço para poder trabalhar e construir, e utilizar esses locais de manhã, de tarde e de noite, se quisessem, para que se possa estudar também. Mas pega-se tudo, enfia-se dentro de uma casa de espetáculo e essa casa de espetáculo tem que dar conta de tudo, inclusive pagar o conserto das fechaduras do banheiro, dos ganchos das portas, das cadeiras quebradas.
Quer dizer, cadê a prefeitura? Cadê a prefeitura da cidade do Recife para trabalhar isso? Já que há uma prioridade tão interessante em reformular a estrutura da cidade e reformular o próprio centro histórico da cidade do Recife – onde eu resido, eu moro no centro histórico do Recife -, se há essa vontade, então por que essa vontade também não se estende às casas de espetáculo? Gerar pequenos espaços de 100, 150 lugares nessa vasta cidade chamada Recife, cadê? É isso.
SATISFEITA, YOLANDA? – Mas existem também os espaços alternativos da cidade, não é?
AUGUSTA FERRAZ: Os espaços alternativos como Fiandeiros, Poste, Cênicas? Cadê o incentivo? Recife não entrou no edital federal para incentivar espaços alternativos da cidade (adesão ao Programa Nacional Aldir Blanc de Ações Continuadas). Por que não entrou? Os espaços existentes são escolas de teatro. Sendo escolas, têm movimento próprio – aulas práticas, teóricas, utilizam quase o dia todo, apresentam conclusões de cursos, oferecem oficinas. É difícil encontrar espaço para quem está fora do processo. Esses espaços não têm disponibilidade para a grande comunidade que trabalha em artes cênicas no Recife.
SATISFEITA, YOLANDA? – Agora vamos pegar outro caminho… Vamos falar sobre seus 150 anos de carreira, quer dizer 50…
AUGUSTA FERRAZ: 150 anos de carreira mesmo! Você está certíssima. Diria uns 240, porque me sinto por aí. Me sinto uma Matusalém nessa história toda. Cada dia fico mais velha – quando me olho no espelho, quando vou para cena testar minhas potencialidades: voz, corpo, gordura, cansaço, dor nas costas, rouquidão. Tenho uns 240 anos, sou jurássica assumidamente.
SATISFEITA, YOLANDA? – O que foi aquela fagulha inicial que a empurrou para o teatro há mais de cinco décadas? E o que mantém essa paixão acesa até hoje?
AUGUSTA FERRAZ: Tudo coincidência. Mesmo sabendo – sou bem junguiana – que coincidências não existem, só sincronicidades. O único caminho que segui foi esse. Estudei, fiz toda formação, entrei na universidade, consegui concluir Artes Cênicas depois de anos de luta – entrava e saía, fui jubilada, depois voltei. Tinha uma turma de amigos, um dia fui assistir um ensaio do Romildo Moreira e a atriz faltou. Ele disse: “Você não quer fazer?” Coisa bem amadora. Eu disse: “Vamos.” Ensaiei no lugar da pessoa que não chegou. Pronto, não parei mais.
SATISFEITA, YOLANDA? – Isso foi com que peça? Você se lembra?
AUGUSTA FERRAZ: A Dama de Copas e o Rei de Cuba, primeiro espetáculo que participei, com Romildo Moreira. Isso foi em 1976, se não me engano. Mas já tinha estreado no teatro como cantora em 1975, no show de Flaviola e o Bando do Sol, com Lula Cortez. Em homenagem a esse momento, canto a música que cantava no show: “Está tudo tão vazio e mudo, a solidão é meu maior tempero, meu coração é pleno desespero”. Canto isso em Bárbara. Antes, em 1973, fiz a grande estreia via colégio – José Francisco Filho era professor. Fizemos apresentação no Teatro de Santa Isabel. Estreei no Santa Isabel, onde vou apresentar Bárbara agora, depois de 52 anos.
SATISFEITA, YOLANDA? – Então já são cerca de 70 espetáculos nesse percurso?
AUGUSTA FERRAZ: Já são mais de 70, fiz mais uns sete. É intenso, muito intenso. Não para. De diversas formas, linguagens, me metendo em várias coisas: cantando, falando, apoiando, lendo, fazendo leituras, apresentando espetáculos, participando de trabalhos de outras pessoas. Somando tudo, estamos perto de 80. Nunca parei. Só parei em 2017, quando tive falência total da vida profissional.
SATISFEITA, YOLANDA? – Financeira?
AUGUSTA FERRAZ: Financeira. Pedi ajuda às pessoas e, graças a Deus, essa ajuda veio, me ergui. Estive muito doente também. Veio a pandemia. A pandemia, ao contrário do que aconteceu com muita gente, me deu um momento muito bom. Pude ficar só – sou uma pessoa só, cultuo a solidão. É maravilhosa, assumida. Não significa que vivo intocada, sem conversar ou trocar com as pessoas. Na pandemia, as pessoas foram obrigadas a viver como eu vivia. Algumas mais perto, outras mais longe, mas me deixaram em paz. Pararam de me cobrar porque estavam tendo vida parecida. Foi um momento de equilíbrio, foi bom. Depois, começaram a sair editais, fiz pequenos projetos, comecei a ter algum dinheiro para viver, pagar os boletos todos. De lá para cá a vida, tem sido interessante. Aliás, a vida é muito boa comigo. Até nos piores momentos, sempre muito boa, me mostra coisas incríveis.
“O maior desafio foi aceitar que fiquei no Recife porque quis. Me neguei a fazer o êxodo. Tive oportunidades de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, mas não via lógica nisso. Achava possível construir coisas aqui. Ainda acho”
SATISFEITA, YOLANDA? – Como você destacaria, desse percurso tão longo, alguns dos principais desafios e aprendizados da sua carreira?
AUGUSTA FERRAZ: O maior desafio foi aceitar que fiquei no Recife porque quis. Me neguei a fazer o êxodo. Tive oportunidades de ir para São Paulo, Rio de Janeiro, mas não via lógica nisso. Achava possível construir coisas aqui. Ainda acho. A cidade, no sentido da profissionalização, tem coisas interessantes acontecendo. Em grupos, artistas específicos, produção. Algumas coisas estão melhorando inegavelmente. Pena não ter espaço para todo esse pessoal desenvolver suas artes – pouquíssimos espaços. Mas hoje aceito plenamente essa escolha.
SATISFEITA, YOLANDA? – Fale sobre sua experiência no cinema, o protagonismo em Amores de Chumbo.
AUGUSTA FERRAZ: A experiência é boa, interessante. Quando estava dentro é que vi como tudo é rápido – em uma semana se faz tudo. Levamos três, quatro meses para montar uma peça de teatro e ainda trabalhamos em casa, na rua, decorando textos, repetindo na cabeça. No cinema, em uma semana se faz tudo. O processo mais demorado é conseguir recursos para produção e depois o lançamento. A pós-produção também, mas na edição não se demora tanto, porque geralmente, quando se faz um roteiro, principalmente agora, tudo é pensado na própria filmagem. Enquanto se filma, você já está pensando na edição. Essa foi uma experiência que tive na TV também. Foi interessante trabalhar com o Papinha – Rogério Gomes, que é o papa da direção da televisão brasileira. Papinha é o nome de guerra dele, porque ele é um papa naquilo que faz, um expert. O brasileiro tem aquela mania de diminutivos: neninha, menininha… então é Papinha. (risos) Eram quatro diretores – ele e os subdiretores que trabalhavam junto. Trabalhei com os quatro. Muito interessante quando era a vez do Rogério, porque ele já ia direto para uma cena, sabia exatamente o que queria, tudo enquadrado, já sabia onde ia cortar. Muito bom isso. A vida na televisão é enlouquecedora porque você fica à mercê daquilo ali. Você não pode fazer nada, mas também pagam para você ficar à mercê, né?
SATISFEITA, YOLANDA? – O teatro hoje é frequentemente visto como algo elitizado, quase um “luxo” – não para quem faz, que muitas vezes vive na precariedade, mas para o público, um certo público. Num mundo com tantas urgências sociais, como você vê a importância e o lugar dessa arte artesanal? O teatro não tem mais a mesma reverência de outras épocas e parece não alcançar multidões? Como você enxerga isso?
AUGUSTA FERRAZ: Fica difícil saber sobre essa questão da reverência em outras épocas, porque a gente sabe que quem escreve a história é sempre um só lado. Então é muito difícil de analisar. O que eu compreendo é que essa arte artesanal, como você fala, tem muitos séculos de vida e não morreu – ela continua. E acredito que continuará. Quem consegue, como plateia, entrar numa sala de espetáculo, se essa pessoa tiver consciência ou estiver pronta para adquirir a consciência de que aquele é um espaço no tempo, uma bolha onde ela entra e vive uma experiência diferente – que não é a experiência da confusão do mundo, mesmo que o tema seja sobre os horrores do mundo -, quem tem a felicidade de experimentar isso não deixa de ir ao teatro nunca. E quem está descobrindo vai continuar querendo descobrir. Agora, aqueles que não conseguem desligar o celular no momento da apresentação… vamos ver o que vai acontecer com eles. Não tenho a menor ideia. É muito estranho. Quando estou no palco e vejo celulares ligados na plateia, é engraçado porque parecem discos voadores, navezinhas pequenas. Está tudo escuro, a luz reflete na pessoa – você não vê o celular, só o reflexo da luz, e ficam aquelas bolhas sentadas na plateia. Quando estou na plateia é diferente – vejo a luz do celular voltada para minha cara, desvia minha atenção. Me incomoda muito mais ver celulares ligados quando estou na plateia do que no palco. Mas é a época que vivemos. Acredito que o espaço do teatro é esse mesmo, um espaço reduzido. Olha que assisti à Fernanda Montenegro em Fedra (1986) com 1.800 pessoas no Teatro Guararapes – não é tão reduzido assim.
SATISFEITA, YOLANDA? – Fernanda Montenegro fez uma leitura memorável no Auditório Ibirapuera em agosto do ano passado, de Simone de Beauvoir, transmitida por telões para 15 mil pessoas no parque. Foi algo incrível.
AUGUSTA FERRAZ: Incrível mesmo.
“Me sinto muito feliz. É um reconhecimento da minha cidade, pelos meus 52 anos de trabalho ininterrupto. Mas gostaria que tivesse havido uma cerimônia de abertura oficial do festival, seguindo sua tradição”
SATISFEITA, YOLANDA? – Como você recebe essa homenagem do 24º Festival Recife do Teatro Nacional? É um reconhecimento importante da cidade, especialmente por um festival que retomou há três anos, mas tem uma história significativa. Você também foi homenageada em 2015 pelo Festival Janeiro de Grandes Espetáculos, quando apresentou quatro trabalhos. O que representa essa homenagem do FRTN para você?
AUGUSTA FERRAZ: Claro que me sinto muito feliz. É um reconhecimento oficial da minha cidade, que reconhece minha história, meus 52 anos de trabalho ininterrupto. Isso é maravilhoso, me alimenta. Gostaria que tivesse havido uma cerimônia de abertura oficial do festival, seguindo sua tradição, onde as pessoas sobem, falam, com cortina aberta ou fechada, com o espetáculo montado. Gostaria de ter sido reconhecida assim também, ter tido esse momento na abertura. Justamente quando chegou minha vez, isso não aconteceu. Sinto falta disso, acho que faltou diálogo comigo. Não sei a posição de Auricéia Fraga, que é a outra atriz homenageada – não conversei com ela sobre isso. Fizeram uma proposta de ter alguma coisa antes da minha apresentação, mas não podia ser porque preciso estar muito concentrada. É um espetáculo que exige muito, mexe com coisas complicadas, atuais, fortes. É impossível parar para fazer algo e depois começar o espetáculo. Tenho que estar imersa, quase amarrada em cena quando a cortina abre. Depois do espetáculo também é impossível – fico exausta, não dá tempo de mudar de roupa. Sinto falta dessa materialização da homenagem que aconteceu nos outros anos – não só a homenagem na mídia, mas também onde a cidade referencia isso. Não vejo como coisa de ego, é absolutamente normal. Faltou diálogo para decidir isso. Mas estou absolutamente feliz com esse momento. É muito especial, não é qualquer pessoa que consegue isso.
SATISFEITA, YOLANDA? – Há algo mais que gostaria de destacar sobre o espetáculo ou sua trajetória?
AUGUSTA FERRAZ: Quero falar sobre o título Sobre os Ombros de Bárbara. A imagem é como um totem, onde um está em cima do outro. Eu, Augusta, estou sobre os ombros de Bárbara, como estou sobre os ombros da minha mãe, dessas pessoas que me antecederam. E sei que algumas pessoas que trabalham com essa arte, com esse ofício, estarão sobre os meus ombros também. Me reconheço nesse espaço de troca, de ter uma história, de ser um ambiente para pesquisa, de ser seguida. Percebo esse lugar também na cidade – essa homenagem que me fazem todos os dias nas trocas com meus colegas, técnicos e artistas. É isso. Estar sobre os ombros da própria história. É lindo isso. Gosto muito de história – do mundo, do Brasil, das pessoas, dos bichos, das máquinas voadoras. É isso.