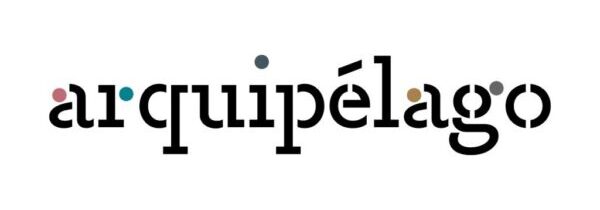“Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve! Não! Eu não sou do lugar dos esquecidos. Não sou da nação dos condenados! Não sou do sertão dos ofendidos!”. No final da década de 1970, seis anos antes do fim da ditadura militar no Brasil, Belchior lançava Conheço o meu lugar. Um dos versos cita “Botas de sangue na roupa de Lorca”, em referência ao poeta e dramaturgo Federico García Lorca, assassinado por militares durante a guerra civil espanhola em 1936. Na noite de domingo de 23 de novembro de 2025, o ator e diretor Dinho Lima Flor, nascido em Tacaimbó, no Agreste pernambucano, morador da cidade de São Paulo há mais de 30 anos, emprestou sua voz à música de Belchior no Teatro Luiz Mendonça, no bairro de Boa Viagem, capital pernambucana.
Em poucos minutos, a apresentação única da peça Restinga de Canudos, da Cia do Tijolo, no Festival Recife do Teatro Nacional, que durou cerca de três horas, iria acabar, mas continuaria ressoando. Requerendo o direito à imaginação e à poesia. Entrelaçando o tempo da memória, do presente e de um futuro que quiçá possamos inventar. Revisando o passado como o conhecemos, como nos foi contado nos livros didáticos e nos jornais. Reivindicando o direito de enterrar corpos – e cabeças decapitadas – de brasileiros.
A história, nos lembra o texto do espetáculo, está acontecendo agora e logo ali pertinho: é só voltar uma mãe, uma avó, uma bisavó. Nesse movimento, estamos de frente para pessoas pretas escravizadas no Brasil. Estamos diante da Lei de Terras, de 1850, que beneficiou latifundiários e impediu o acesso dos negros às terras. Vemos a comunidade de Belo Monte, liderada por Antônio Conselheiro, tomar forma em 1893, no Sertão da Bahia. As tentativas de massacre a partir de 1896 pelo Exército brasileiro do povo que se reuniu ali. O extermínio de 25 mil pessoas em dois anos, 1896 e 1897. O lançamento do livro Os Sertões, publicado cinco anos depois, que transformaria essa história – qual história mesmo? A partir de qual viés? – em literatura e tornaria seu autor, Euclides da Cunha, defensor da República e do progresso, imortal da Academia Brasileira de Letras e membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Restinga de Canudos nos coloca hoje, de frente ao açude Cocorobó – como diz uma das músicas inéditas da trilha sonora – , que inundou Belo Monte em 1969, durante a ditadura civil-militar. No site do Departamento Nacional de Obras Contras as Secas, vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, a inundação de Canudos não é questionada: são apresentadas versões de especialistas que dizem que aquele seria o melhor lugar para a construção da barragem. Pelo contrário, há um tom de celebração do “movimento da vida, onde antes era seca, passou a ser fonte de água e subsistência para o povo sertanejo”. Não bastava exterminar a população de Belo Monte. Era preciso inundá-la, apagá-la, fazê-la desaparecer. E ainda usar para isso a relação entre a seca, que ajudou a construir a ideia que o Brasil possui de Nordeste, e a água, que chega graças à “benevolência” do Estado brasileiro.
A peça da Cia do Tijolo mergulha em Canudos e, ao fazer isso, mergulha dentro da gente – diz o texto se referindo à equipe que se dedicou a erguer o trabalho a partir de estudos e ensaios que levaram mais de um ano. Criada em 2008, com integrantes oriundos de grupos significativos da cena de São Paulo, especialmente o Ventoforte, a Cia do Tijolo é um coletivo de teatro de pesquisa que pode ser caracterizado pela verticalização das suas investigações, que perpassam a relação com a música, e que resultam em trabalhos cênicos que, geralmente, possuem tempo expandido.
O espetáculo de estreia, de 2008, era sobre Patativa do Assaré e, desde então, se dedicaram a figuras históricas como Federico Garcia Lorca, Paulo Freire, Dom Helder Câmara, montaram a obra Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende e, agora, esquadrinharam a Guerra de Canudos. O primeiro trabalho de rua do grupo, estreado em 2022, Corteja Paulo Freire, foi apresentado no Parque Dona Lindu, no sábado, 22 de novembro, também dentro da programação do festival.
Em Restinga de Canudos, estavam em cena no Recife Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Maria Alencar, Jaque da Silva, Artur Mattar, Danilo Nonato, Vanessa Petroncari, Leandro Goulart e João Bertolai, além dos músicos Marcos Coin, Nanda Guedes e Ju Vieira. Alguns elementos são marcantes na construção cênica do espetáculo, como a música, inclusive com composições autorais de Jonathan Silva; e o cenário, que tem assinatura da companhia e de Douglas Vendramini, cujo principal elemento é o bambu, vários deles, movimentados pelo elenco a cada cena.
O espetáculo começa celebrando a possibilidade de existência instaurada pelo arraial de Belo Monte. Antes de ser guerra, Canudos era festa, diz o texto. Mesa farta com promessa de manás: o cuscuz com leite foi compartilhado entre todos da plateia logo no início do espetáculo. De mala e cuia, forró de Flávio Leandro, famoso na voz de Flávio José, e agora na regravação do projeto Dominguinho, de João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê, tocado e cantado pelo grupo, lembrou que nesse arraial sobra espaço para quem estiver disposto a chegar e a compartilhar. Onde come 1, comem 2, comem 3, se a lógica não é a neoliberal. As cenas partem da festa, mas podem se transformar em aulas das professoras de Belo Monte, em emboscadas no meio do Sertão, em encontros inéditos de personagens históricos.
Restinga de Canudos é teatro que reescreve a história. O espetáculo não se contenta com as versões oficiais: a intenção é escovar a história a contrapelo, como propõe Walter Benjamin, questionando a historiografia, se insurgindo contra as lógicas que decantaram e foram repetidas ao longo das décadas. Trata-se de instaurar um ambiente de exercício dialético, que propõe o questionamento e a tomada de posição ao espectador. O que fazer, por exemplo, com um capitão do Exército que assassinou, sem motivos, a sangue frio, um jovem preto? A violência da vingança seria capaz de aplacar o desejo por justiça?
Nesse processo de investigar a história, encontros se tornam possíveis graças à ficção. Duas professoras de Belo Monte – professoras em tempos de paz, combatentes e enfermeiras em tempos de guerra –, interpretadas por Karen Menatti e Maria Alencar, personagens responsáveis por narrar a história, têm a chance de se encontrar e discutir com Euclides da Cunha, vivido por Rodrigo Mercadante, enviado pelo jornal O Estado de S. Paulo em 1897 para cobrir a Guerra de Canudos. Foram dois meses de cobertura, textos publicados sob a categorização de “Diário de uma expedição”. Desse tempo, Euclides da Cunha esteve em Salvador por 23 dias, esperando autorização do Exército para seguir para a região do conflito. As duas atrizes e o ator que fazem a cena desse debate desceram do palco para que a discussão se desse na plateia, em meio aos espectadores.
O que se revela nessa conversa é a imagem de dois Brasis: o Norte do atraso e do messianismo (O Nordeste seria instituído em 1941, na primeira divisão regional do Brasil, e abrangia os estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco) e o Sul do progresso e da civilização (o Sudeste só foi oficializado em 1970). O primeiro seria miscigenado, o outro, branco, mesmo que essa brancura não fosse necessariamente comprovada pela aparência física. São ideias e oposições de Brasis que o livro de Euclides da Cunha, mesmo que tenha assumido a barbárie da República em Belo Monte, ajudou a estruturar, assim como a própria ideia do que viria a ser o Nordeste.
“O sertanejo é antes de tudo um forte”, trecho de Os Sertões que se tornou máxima, não diz tudo sobre a categorização de sertanejo que o autor propunha. É preciso ler o trecho inteiro, se deparar com o preconceito em relação aos “mestiços neurastênicos do Litoral”, e à aparência e postura do sertanejo, “Hércules quasímodo”. Para Euclides da Cunha, o progresso inevitável trazido pela República livraria o povo da loucura messiânica. As professoras propõem outra forma de organização social e discutem a validade desse progresso que esmaga as populações mais vulneráveis.
Em determinado momento, uma cisão na ficção se estabelece. A encenação é momentaneamente suspensa para abrir espaço ao ensino formal. Em cada apresentação, uma professora é convidada pela produção para subir ao palco e falar sobre Canudos. Aqui no Recife, a convidada foi a professora de literatura Renata Pimentel, que fez um percurso inspirador indo de Silvia Federici e da invenção do amor romântico que nos subjuga como mulheres ao patriarcado, passando pelas guerreiras de Tejucupapo, pela resistência à colonização, seja qual for a língua do colonizador, por Paulo Freire e por Antônio Bispo dos Santos que, inclusive, é citado no texto do espetáculo, na aproximação entre colonização e adestramento.
Depois desse momento, a encenação volta a se estruturar, numa operação difícil de retomada, que se potencializa graças a mais um encontro ficcional: Antônio Conselheiro e Euclides da Cunha. Dinho Lima Flor e Rodrigo Mercadante, em atuações sensíveis e tocantes. Mas é preciso falar das mulheres nesse espetáculo, de Karen Menatti, de sua voz e atuação lindas; da versatilidade, coragem e competência de Maria Alencar, substituta de Odília Nunes, pernambucana que não conseguiu participar desta apresentação. E de todos os ótimos atores que assumem papéis coadjuvantes, mas que são esteio nesse espetáculo que funciona como uma ciranda, tem cadência, tem respiro, tem profundidade, demanda tempo de existência. Jonathan Silva, músico e compositor das músicas inéditas do espetáculo, também não conseguiu estar no Recife e faz falta, mas o grupo contou com músicos ótimos que assumem a tarefa de transformar música em dramaturgia.
O espetáculo da Cia do Tijolo é um mergulho duro e lúcido na nossa história e, ao mesmo tempo, lúdico, poético, musical, inspirador. É emocionante acompanhar tanta gente no palco – atores e músicos – construindo, desconstruindo e reconstruindo o arraial de Belo Monte com os bambus manejados pelo elenco como se uma dança colaborativa se estabelecesse. É o teatro de grupo, de pesquisa, que resiste, que insiste, que faz sentido de existir. Sabe quando você vai ver uma peça e não entende muito bem o porquê aquelas pessoas estão dedicadas àquele projeto? Isso não acontece com a Cia do Tijolo: é um teatro de pertinência para o nosso tempo e é lindo de ver.
*A cobertura crítica da programação do 24º Festival Recife do Teatro Nacional é apoiada pela Prefeitura do Recife
Ficha técnica:
Restinga de Canudos, da Cia do Tijolo
Criação e dramaturgia: Dinho Lima Flor e Rodrigo Mercadante
Direção geral: Dinho Lima Flor
Elenco: Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Maria Alencar, Jaque da Silva, Artur Mattar, Danilo Nonato, Vanessa Petroncari, Leandro Goulart e João Bertolai
Músicos: Marcos Coin, Nanda Guedes e Ju Vieira
Movimento e corpo: Viviane Ferreira
Composições originais: Jonathan Silva
Direção musical: Cia. do Tijolo e William Guedes
Desenhos: Artur Mattar
Cenário: Cia. do Tijolo e Douglas Vendramini
Assistência de cenotécnica: Tati Garcez e Gonzalo Dorado
Figurino: Cia. do Tijolo e Silvana Marcondes
Iluminação: Cia. do Tijolo e Rafael Araújo
Som: Hugo Bispo
Direção de produção: Garcez Produções (Suelen Garcez)
Produção executiva: Suelen Garcez
Assistência de produção: Tati Garcez