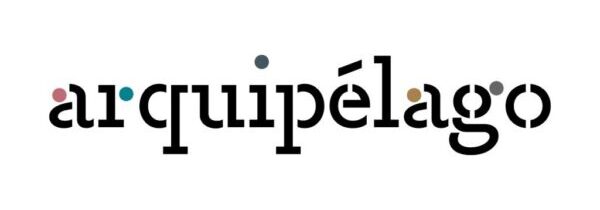Alguns espetáculos da programação do festival
Entre os próximos dias 20 e 30 de novembro, o 24º Festival Recife do Teatro Nacional transforma palcos e outros espaços da capital pernambucana em território de celebração das vozes femininas que há décadas protagonizam movimentos de produção e insurreição cultural. Sob o tema Vozes Femininas – Histórias que Ressoam, o festival reverbera perspectivas, criatividades, forças e esperanças de grandes mulheres das artes cênicas pernambucanas e brasileiras, numa elaboração delicada e potente de lutas e lutos sociais.
Como já antecipamos aqui no Satisfeita Yolanda?, o festival abre com Lady Tempestade, protagonizada por Andréa Beltrão, montagem que tem causado furor por onde passa e despertou interesse impressionante do público recifense. O espetáculo tem três sessões nos dias 20, 21 e 22 de novembro, no Teatro de Santa Isabel, buscando acomodar o maior número possível de espectadores, já que toda a programação é gratuita, trocada por um quilo de alimento no dia da apresentação.
Em onze dias de atividades oferecidas pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, serão apresentados 24 espetáculos – 16 deles inéditos na capital pernambucana – distribuídos em 37 sessões que convidam o Recife a aplaudir e celebrar o teatro feito no Brasil. Além das produções locais, o festival inclui debates, performances e oficinas gratuitas que fortalecem a vocação pedagógica do evento.
Entre os destaques nacionais inéditos na cidade estão Tudo que Eu Queria te Dizer com Ana Beatriz Nogueira, Mary Stuart dirigida por Nelson Baskerville, com Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa e elenco, 116 Gramas: Peça para Emagrecer, as duas montagens da Cia do Tijolo (Restinga de Canudos e Corteja Paulo Freire), Zona Lésbica e Tem Bastante Espaço Aqui, do Rio de Janeiro, Das que Ousaram Desobedecer do Ceará, A Menina dos Olhos D’Água do Rio Grande do Sul,A Mulher Bala, de São Paulo e Ella do Amazonas. Das peças locais inéditas temos o infantil Helô em Busca do Baobá Sagrado, além dos trabalhos das homenageadas Não se Conta o Tempo da Paixão e Sobre os Ombros de Bárbara, abertura de processo de Auricéia Fraga e estreia de Augusta Ferraz, respectivamente. O único espetáculo internacional desta edição estabelece ponte franco-brasileira: On Veut / A Gente Quer apresenta roteiro francês interpretado por elenco recifense selecionado especialmente para o projeto.

Andréa Beltrão abre a programação do FRTN na quinta-feira, 20/11. Foto: Nana Moraes
Em diálogo com o tema do festival, Lady Tempestade reconstrói uma história fundamental da resistência brasileira através da trajetória de Mércia de Albuquerque, advogada que defendeu mais de 500 presos políticos durante a ditadura militar. Ao testemunhar a tortura de Gregório Bezerra nas ruas do Recife em 1964, sua vida foi transformada em missão de defesa dos direitos humanos.
Com texto de Sílvia Gomez e direção de Yara de Novaes, o monólogo parte dos diários que Mércia escreveu durante os anos mais duros da repressão. Andréa Beltrão interpreta A., mulher que recebe misteriosamente os escritos e gradualmente se envolve com aquelas histórias, numa estrutura narrativa que embaralha temporalidades através de um “diário dentro do diário”. A escolha dramatúrgica amplifica o impacto emocional ao criar camadas de identificação entre diferentes gerações de mulheres.
Homenageadas do ano

Augusta Ferraz e Auricéia Fraga as homenageadas desta edição
Auricéia Fraga e Augusta Ferraz são as homenageadas desta versão, duas artistas dedicadas conseguem atravessar décadas mantendo relevância criativa. Juntas, essas trajetórias mostram como a continuidade de uma tradição teatral se constrói através do trabalho persistente de seus intérpretes mais experientes, influenciando gerações e garantindo a renovação constante da cena local.
Augusta Ferraz é uma das figuras mais emblemáticas do teatro pernambucano, com carreira que ultrapassa cinco décadas e mais de 70 produções. Sua jornada artística, iniciada nos anos 1970, construiu-se através da versatilidade e compromisso inabalável com a arte cênica. Nos anos 1980, pela companhia Ilusionistas, encenou clássicos infantis que marcaram gerações; na década seguinte, tornou-se pioneira em espetáculos solo no estado, dirigindo e atuando em monólogos como Malassombro (2001) e Sexo, a arte de ser censurada (2014).
O reconhecimento de sua importância culminou em 2015, quando foi homenageada no 21º Janeiro de Grandes Espetáculos com a mostra Augusta Ferraz: 40 Anos de Resistência, apresentando quatro trabalhos em sequência. Atualmente, mantém engajamento ativo nas lutas pela cultura pernambucana e expandiu seu talento para a televisão, estreando na novela Guerreiros do Sol como Dona Berenice.
Nesta 24ª edição do FRTN, Augusta Ferraz defende a personagem Bárbara de Alencar (1760-1832), primeira presa política brasileira e protagonista da Revolução Pernambucana de 1817 em Sobre os Ombros de Bárbara, nos dias 29 e 30 de novembro. Com dramaturgia criada pela própria Augusta em parceria com Brisa Rodrigues e direção de José Manoel Sobrinho, o espetáculo explora a luta de uma mulher republicana durante a monarquia, apresentando um corpo violentado e uma resistência ao arbítrio que estabelece conexões diretas entre passado e presente.
Auricéia Fraga, por sua vez, representa a memória viva do teatro recifense. Ela acumula mais de cinco décadas de carreira com mais de 40 montagens teatrais. Iniciada em 1972 na Escola de Belas Artes da UFPE, conquistou prêmios de melhor atriz e colaborou com diretores de prestígio como Antônio Cadengue, Milton Bacarelli e Marco Camarotti, transitando também pelo cinema em filmes como Tatuagem e Árido Movie.
Não se Conta o Tempo da Paixão oferece à homenageada Auricéia Fraga a oportunidade de compartilhar memórias e reflexões sobre mais de 50 anos dedicadas às artes cênicas. O trabalho, dirigido por Rodrigo Dourado, funciona como abertura de processo que narra sua relação profunda com o teatro, criando espaço de intimidade entre a veterana atriz e o público.
Dupla Perspectiva de Resistência e Educação

Restinga de Canudos. Foto: Alecio Cesar

Corteja Paulo Freire, da Cia do Tijolo. Foto: Alecio Cesar
A presença da Cia do Tijolo no festival traz duas montagens complementares que dialogam com a pedagogia freireana e a memória histórica brasileira, demonstrando como uma companhia pode abordar temas correlatos através de linguagens distintas.
Restinga de Canudos propõe uma inversão de perspectiva radical sobre um dos episódios mais controversos da história nacional. Sob direção de Dinho Lima Flor, ao invés de partir do massacre documentado por Euclides da Cunha, a montagem escolhe iluminar a vida pulsante que existia antes da guerra, mostrando Canudos como vitória, não como derrota.
A dramaturgia reconstrói o cotidiano de uma comunidade que inventou formas próprias de existência no sertão baiano, revelando a complexidade social de Belo Monte muito além da figura de Antônio Conselheiro. O olhar parte de duas professoras – Odília Nunes e Karen Menatti – que em tempos de paz educavam e em tempos de guerra transformaram-se em enfermeiras e combatentes. Esta escolha narrativa reafirma, inspirada na ética freireana, o papel fundamental dos educadores na formação de consciência crítica.
Complementarmente, Corteja Paulo Freire chega como celebração poética, musical e itinerante que flexiona o conceito de cortejo no feminino. A montagem homenageia o educador pernambucano através de uma proposta que se movimenta pelos espaços, criando experiência imersiva que dialoga diretamente com a pedagogia freireana, falando sobre coletividade, respeito e caminhada como processos de construção coletiva de conhecimento.
Poder, Conspiração e Espelhos Contemporâneos

Mary Stuart, direção de Nelson Baskerville com Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa. Foto: Priscila Prade
Transitando dos movimentos sociais para os jogos palacianos, Mary Stuart estabelece pontes temporais entre disputas do século XVI e embates políticos atuais. Nelson Baskerville transporta as tensões entre duas monarcas para uma linguagem que espelha questões contemporâneas, aproveitando o potencial da adaptação de Robert Icke que Virginia Cavendish descobriu em Londres.
Virginia Cavendish e Ana Cecília Costa interpretam as rainhas que historicamente nunca se encontraram, mas que no palco representam mulheres que pagaram caro por viver segundo suas convicções. A direção planeja recursos cenográficos que conectem passado e presente: um cronômetro permanentemente projetado marcará os últimos momentos de Mary Stuart, aprisionada há 18 anos.
A montagem dialoga com questões urgentes como o estímulo à misoginia, guerras religiosas que ressurgem periodicamente e mecanismos de enfraquecimento daqueles que não compactuam com estruturas de dominação. Esses temas ecoam tanto no impeachment de Dilma Rousseff quanto na crescente exploração da religião como ferramenta de manipulação política, demonstrando como clássicos teatrais podem iluminar conjunturas atuais.

Ana Beatriz Nogueira em Tudo que Eu Queria Te Dizer
Tudo que Eu Queria Te Dizer traz Ana Beatriz Nogueira revisitando textos baseados no livro de Martha Medeiros, sob direção de Victor Garcia Peralta. O solo apresenta cartas femininas sobre amor, rejeição, saudade, ética e desejo, com a atriz se desdobrando na pele de seis mulheres de universos distintos, todas vivendo momentos-limite de desabafo. A montagem, despojada cenograficamente, aposta inteiramente na força interpretativa.
Questionando Padrões Corporais e Sociais

116 Gramas: Peça para Emagrecer com Letícia Rodrigues

Ella, com Ana Oliveira da Cia Cacos, reflete sobre violência simbólica. Foto Heldemar Castro
Duas montagens se dedicam especificamente a questionar padrões impostos socialmente, pensando corpo e identidade através de perspectivas complementares mas distintas.
116 Gramas: Peça para Emagrecer apresenta Letícia Rodrigues em solo que mergulha na experiência de um corpo considerado “fora do padrão”. O título, que se refere ao peso específico que separava a personagem de um objetivo aparentemente simples, revela-se ponto de partida para investigação mais ampla sobre as pressões que a sociedade exerce sobre determinados corpos. A dramaturgia vai além da questão estética, problematizando os rituais obsessivos da busca por adequação social.
Ella, produção de Manaus com Ana Oliveira da Cia Cacos, utiliza a linguagem do clown para mirar a violência simbólica de gênero. A personagem, obcecada pela busca do amor romântico, combina humor e crítica, provocando questionamentos sobre autocuidado, padrões de beleza e os limites invisíveis da violência que perpassa o cotidiano feminino. A escolha pela palhaçaria como linguagem permite abordar temas delicados através do riso, criando pontes de identificação com o público.

A Menina dos Olhos D’Água (RS) mistura teatro de formas animadas com teatro documentário para crianças

Helô em Busca do Baobá Sagrado é montagem recifense que estreia no festival
O festival apresenta para o público infantil montagens que tocam em temas complexos através de linguagem acessível, conectando, por exemplo, tradições ancestrais com questões contemporâneas.
Helô em Busca do Baobá Sagrado representa a produção local através do trabalho de Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro. A montagem narra a jornada de uma menina que deve encontrar o fruto sagrado do Baobá para curar seu povo da “doença da tristeza”, conectando tradições africanas com questões sobre saúde mental coletiva e cuidado comunitário.
Já A Menina dos Olhos D’Água, com Liane Venturella do Rio Grande do Sul, vem com proposta que mistura teatro de formas animadas com teatro documentário para crianças. A montagem mistura temas como exílio, pertencimento, perda e superação, demonstrando como linguagens híbridas podem tornar questões complexas acessíveis às infâncias.
A Mulher Bala adiciona a perspectiva da palhaçaria feminina através do trabalho da paulista Funúncia (Priscila Senegalho e Renato Paio), que tenta se tornar uma bala humana usando canhão confeccionado por ela mesma. A proposta aposta no humor circense para questionar padrões de feminilidade, oferecendo às crianças referências de empoderamento feminino através do riso.
Fechando este núcleo, Tem Bastante Espaço Aqui chega do Rio de Janeiro com Carolina Godinho, Juliane Cruz e Monique Vaillé, propondo investigações intimistas sobre família, convivência e afeto. As histórias transitam entre humor e emoção, a partir dos jogos e dinâmicas familiares contemporâneas e suas narrativas que dialogam .
Laboratórios Internacionais e Memórias Regionais

Das que Ousaram Desobedecer, que resgata lutas de mulheres cearenses contra a ditadura militar entre 1960 e 1979. Foto: Pattie Silva

Montagem carioca Zona lésbica reivindica direitos afetivos
A companhia francesa ktha veio ao Recife para desenvolver a peça On Veut / A Gente Quer com artistas locais, como parte da programação do Ano Cultural Brasil-França 2025. Após analisar mais de 100 cartas de intenção, a companhia selecionou artistas locais para construir versão específica que dialogue com particularidades pernambucanas. A metodologia da ktha funciona através de dramaturgia aberta – uma extensa lista de desejos e reivindicações que ganha forma específica através do trabalho com performers locais, criando rituais coletivos de partilha de anseios urbanos. Participam do trabalho Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima.
A programação também valoriza memórias regionais através de Das que Ousaram Desobedecer, que chega do Ceará com Liliana Brizeno, Marina Brito e Marina Brizeno. A montagem resgata lutas de mulheres cearenses contra a ditadura militar entre 1960 e 1979, iluminando histórias de resistência que frequentemente permaneceram na sombra dos relatos oficiais, reconstruindo trajetórias de mulheres que enfrentaram a repressão através de diferentes formas de insurgência.
Ainda na programação principal, Zona Lésbica enfrenta estereótipos de gênero e reivindica direitos afetivos através do trabalho de Carolina Godinho, Dandara Azevedo, Dani Nega, Jessica Lamana, Monique Vaillé, Nely Coelho e Simone Beghinni. A montagem carioca propõe discussões necessárias sobre diversidade sexual e afetiva, uma afirmação direta sobre direitos fundamentais.
OFFRec: Ampliando Vozes Emergentes

Mi Madre, com Jhanaina Gomes. Foto: Morgana Narjara

Ensaio do Agora. Foto: Rogério Alves

HBLynda Morais apresenta vivências interseccionais. Foto: Rafael Quirino

Shá da Meia Noite, com Sharlene Esse, primeira dama trans do teatro pernambucano
A vocação pedagógica do festival segue sua trilha com a mostra OFFRec, que apresenta produções locais escolhidas pela curadoria para formar o panorama da cena contemporânea. Esta programação paralela funciona como vitrine para artistas emergentes e propostas experimentais que buscam visibilidade.
Mi Madre, solo autobiográfico de dança criado por Jhanaina Gomes, honra ancestralidade através do movimento corporal. HBLynda Morais apresenta vivências interseccionais de uma pessoa gorda, preta, candomblecista e não binária, oferecendo perspectivas múltiplas sobre identidade contemporânea.
Ensaio do Agora constrói narrativas sobre memória através do trabalho conjunto de Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção, contando histórias de nove mulheres. Avós permite que Olga Ferrario celebre ancestralidade feminina através de trabalho poético sobre as mulheres que a antecederam, criando pontes geracionais através da arte.
Àwọn Irúgbin confirma protagonismos afro-indígenas através do trabalho de Cecilia Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo, demonstrando como jovens artistas conseguem articular identidades étnicas com propostas cênicas contemporâneas.
As intervenções Silêncio, de Célia Regina, ocorre na Casa de Alzira na mesma ocasião que Shá da Meia Noite, de Sharlene Esse, que celebra os 40 anos do Grupo Vivencial. As ações conectam a história do teatro alternativo pernambucano com propostas atuais de experimentação cênica.
Formação
Quatro oficinas gratuitas fazem parte deste festival. Teatro, Dança e o Sagrado Feminino com Sandra Rino explora conexões entre espiritualidade e criação cênica. Corpo e Escrita de Si com Paula Lice investiga relações entre experiência corporal e criação dramatúrgica.
Da Ideia à Cena oferece com Malú Bazán território de experimentação para criação de solos teatrais, enquanto Dramaturgias Feministas permite que Luciana Lyra aprofunde discussões sobre o papel das mulheres na criação teatral contemporânea.
Paralelamente, o Ciclo de Dramaturgia Feminista inclui leituras cênicas e debates que fortalecem a vocação pedagógica do festival, criando espaços de reflexão sobre os avanços e desafios da representação feminina nas artes cênicas.
PROGRAMAÇÃO
24º FESTIVAL RECIFE DO TEATRO NACIONAL
De 20 a 30 de novembro
DIA 20 (QUINTA-FEIRA)
20h – Abertura + “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras
DIA 21 (SEXTA-FEIRA)
19h – Abertura de processo “Não se Conta o Tempo da Paixão”, com Auricéia Fraga (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
Com Libras
20h – “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras
DIA 22 (SÁBADO)
16h – “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
16h30 – “On Veut / A Gente Quer”, com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
No Bairro do Recife
Com Libras
16h30 – “Corteja Paulo Freire”, da Cia do Tijolo (SP), com Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Artur Mattar, Odilia Nunes, Danilo Nonato, Jaque da Silva, Vanessa Petroncari e João Bertolai
No Teatro Luiz Mendonça
18h – “116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
No Teatro Apolo
Com Libras
20h – “Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
No Teatro do Parque
Com Libras
20h – “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras e Audiodescrição
DIA 23 (DOMINGO)
16h – “Helô em Busca do Baobá Sagrado”, com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
16h30 – “On Veut / A Gente Quer”, com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos, Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
No Bairro do Recife
Com Libras
18h – “Restinga de Canudos”, da Cia do Tijolo (SP), com Dinho Lima Flor, Rodrigo Mercadante, Karen Menatti, Odília Nunes, Artur Mattar, Jaque da Silva, Danilo Nonato, João Bertolai, Marcos Coin, Dicinho Areias, Jonathan Silva, Juh Vieira, Vanessa Petroncari, Mayara Baptista, Roma Oliveira, Maria Alencar Rosa, Nanda Guedes e Leandro Goulart
No Teatro Luiz Mendonça
18h – “116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
No Teatro Apolo
Com Libras e Audiodescrição
19h – “Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
No Teatro do Parque
Com Libras e Audiodescrição
DIA 24 (SEGUNDA-FEIRA)
OFFRec
19h – Espetáculo “Mi Madre”, com Jhanaina Gomes (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
DIA 25 (TERÇA-FEIRA)
OFFRec
16h – Ciclo de Dramaturgia Feminista – Leitura cênica: “Deus da Carnificina”, com o Ato Teatro (PE)
No Espaço Cênicas
17h – Debate: “O Olhar da Mulher – Trânsito entre Teatro e Cinema”, com Andréa Veruska e o Ato Teatro (PE)
No Espaço Cênicas
19h – Espetáculo “HBLynda”, com HBLynda Morais (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
DIA 26 (QUARTA-FEIRA)
OFFRec
16h – Ciclo de Dramaturgia Feminina – Leitura cênica: “A Peça do Vulcão”, com a Cênicas Cia de Repertório (PE)
No Espaço Cênicas
17h – Debate: “O Trabalho da Cênicas Cia e a Presença da Mulher”, com Sônia Carvalho e Toni Rodrigues (PE)
No Espaço Cênicas
19h – Espetáculo “Ella”, com Ana Oliveira (AM)
No Teatro Hermilo Borba Filho
DIA 27 (QUINTA-FEIRA)
OFFRec
16h – Ciclo de Dramaturgia Feminista – Leitura cênica: “Josephina”, com Arilson Lopes, Fabiana Pirro e Ana Luiza D’Accioli (PE). Participação: DJ Vibra
No Espaço Cênicas
17h – Debate: “Feminismo, Teatro e Dramaturgia”, com Luciana Lyra e grupo (PE)
No Espaço Cênicas
18h – Lançamento de livro: “Coleção Dramaturgias Feministas”/Numa Editora, com Luciana Lyra
No Espaço Cênicas
19h – Espetáculo “Avós”, com Olga Ferrario (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
20h – Espetáculo “Ensaio do Agora”, com Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção (PE)
No Teatro Apolo
DIA 28 (SEXTA-FEIRA)
20h – “Mary Stuart” com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, César Mello/Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Johnnas Oliva/Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron (SP)
No Teatro do Parque
Com Libras
OFFRec
16h – “ÉdypusD’Yocasta”: abertura de processo – Dramaturgia em progresso”, com Cia do Ator Nu (PE)
Na Casa de Alzira
17h – Debate: “Escrituras Femininas – Entre Teatro e Literatura”, com Flávia Gomes e Cia do Ator Nu (PE)
Na Casa de Alzira
19h – Espetáculo “Àwọn Irúgbin”, com Cecilia Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
DIA 29 (SÁBADO)
11h – “A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
No Teatro Marco Camarotti
Com Libras
16h – “Tem Bastante Espaço Aqui”, com Carolina Godinho, Juliane Cruz e Monique Vaillé (RJ)
Teatro Apolo
16h – “A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
No Parque da Tamarineira
Com Libras
20h – “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras
20h – “Mary Stuart”, com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, César Mello/Anderson Müller, Eucir de Souza, Joelson Medeiros, Johnnas Oliva/Iuri Saraiva, Fernando Vitor, Alef Barros e Julia Terron (SP)
No Teatro do Parque
Com Libras e Audiodescrição
OFFRec
16h – Diálogos Crítico-Pedagógicos: “OFFRec em Perspectiva – Tendências Contemporâneas”, com Fátima Pontes e Emanuela de Jesus (PE)
Na Casa de Alzira
19h – Espetáculo “Das que Ousam Desobedecer”, com Liliana Brizeno, Marina Brito e Marina Brizeno (CE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
21h – Intervenção performática “Silêncio”, com Célia Regina (PE)
Na Casa de Alzira
22h – Espetáculo “Shá da Meia Noite”, com Sharlene Esse (PE)
Na Casa de Alzira
DIA 30 (DOMINGO)
11h – “A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
No Teatro Marco Camarotti
16h – “A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
No Parque da Macaxeira
Com Libras
18h – “Noite”, com Sônia Biebard, Fátima Aguiar e Karine Ordônio (PE)
No Teatro Hermilo Borba Filho
19h – “Zona Lésbica”, com Carolina Godinho, Dandara Azevedo, Dani Nega, Jessica Lamana, Monique Vaillé, Nely Coelho e Simone Beghinni (RJ)
No Teatro Apolo
Com Libras
20h – “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (SP)
No Teatro de Santa Isabel
Com Libras e Audiodescrição
OFICINAS
“Teatro, Dança e o Sagrado Feminino – A Dança dos Elementos” – Com Sandra Rino (PE). Dias 20 e 21, das 8h30 às 12h30, no Paço do Frevo. 20 vagas (só para mulheres)
“Corpo e Escrita de Si – Dramaturgia para e a partir das Infâncias” – Com Paula Lice (BA). Dias 21, 22 e 23, das 14h às 18h, Teatro Marco Camarotti.. 20 vagas
“Da Ideia à Cena – Território de Experimentação Cênica para Criação, Desenvolvimento e Pesquisa de Solos Teatrais” – Com Malú Bazán (SP). Dias 24, 25, 26 e 27, das 9h às 13h, no Teatro de Santa Isabel. 12 vagas
“Dramaturgias Feministas: Panorama Brasileiro, Agendas e Modos de Fazer” – Com Luciana Lyra (PE). Dia 26/11, das 14h às 18h, no Teatro de Santa Isabel. 20 vagas

 Embarque na história de uma mulher que dedicou sua vida a defender aqueles que o Estado considerava inimigos. Mércia Albuquerque foi uma advogada corajosa que, durante os anos mais sombrios da ditadura militar, enfrentou tribunais, burocracias e ameaças para garantir direitos básicos a centenas de presos políticos em Pernambuco. Sua trajetória está no palco através de Lady Tempestade, com Andrea Beltrão, espetáculo que inaugura o 24º Festival Recife do Teatro Nacional, com sessões entre 20 e 22 de novembro no Teatro de Santa Isabel.
Embarque na história de uma mulher que dedicou sua vida a defender aqueles que o Estado considerava inimigos. Mércia Albuquerque foi uma advogada corajosa que, durante os anos mais sombrios da ditadura militar, enfrentou tribunais, burocracias e ameaças para garantir direitos básicos a centenas de presos políticos em Pernambuco. Sua trajetória está no palco através de Lady Tempestade, com Andrea Beltrão, espetáculo que inaugura o 24º Festival Recife do Teatro Nacional, com sessões entre 20 e 22 de novembro no Teatro de Santa Isabel.