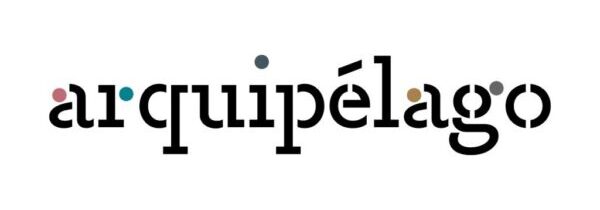Carolina Bianchi em cena de A Noiva e o Boa Noite Cinderela – Capítulo 1 da Trilogia Cadela Força. Foto: Christophe Raynaud de Lage / Divulgação
A norte-americana Emilie Dickinson (1830-1886) intrigou e chocou seus contemporâneos com sua poesia “explosiva e espasmódica”. Dickinson é uma das grandes inspirações de arte para a encenadora, atriz, dramaturga e performer Carolina Bianchi. A diretora do coletivo Cara de Cavalo, de São Paulo, com quem criou as peças O Tremor Magnífico (2020), Lobo (2018), Quiero hacer el amor (Quero fazer amor) (2017) e Mata-me de Prazer (2016) recebe os versos de Dickinson como uma “tentativa de elaborar coisas impossíveis, uma dor constante, uma negociação entre a dor e a beleza, que me toca muito”.
Nessa tentativa de elaborar coisas impossíveis, Bianchi encara de frente o monstro, o fantasma, a questão da violência sexual no espetáculo A Noiva e o Boa Noite Cinderela – Capítulo 1 da Trilogia Cadela Força, que estreou no Festival de Avignon, com uma repercussão incrível. O grupo ataca de frente as questões de violência sexual, estupro, feminicídio. E leva à cena de maneira potente a perda de consciência, o apagar da memória, um território borrado, num espetáculo muito rico em camadas.
Bianchi e o coletivo Cara de Cavalo põem um pé no inferno nessa peça que já no título projeta os dois núcleos da dramaturgia do trabalho. A Noiva é a parte da palestra no espetáculo, em que a atriz compartilha seus estudos sobre o caso de uma artista italiana, Pippa Bacca, que foi estuprada e assassinada durante uma performance, em que estava vestida de noiva.
A outra parte do título, Boa noite Cinderela, é o nome que se usa no Brasil para uma combinação de sedativos colocados nas bebidas das pessoas nas festas; no caso das mulheres, geralmente com o intuito do estupro enquanto estão desacordadas.
Ao tentar elaborar essa violência, o espetáculo busca amparos poéticos em artistas como Dante Alighieri ou o escritor chileno Roberto Bolaño, a partir do seu livro 2666. “O objetivo da peça não é encontrar sentido para essa violência, porque isso é impossível. Mas acredito que o teatro é um campo onde essa repetição pode ser possível através da criação de uma linguagem. Não apenas o depoimento sobre a violência, mas a criação de uma maneira de tocar nesses assuntos, inventar, imaginar”.
Entrevista || Carolina Bianchi
Como você conseguiu furar a bolha e chegar à programação principal do festival de Avignon?
O que acontece é que o Tiago (Rodrigues, diretor do festival a partir desta edição) e Magda (Bizarro) me conhecem há muitos anos. Eles viram meus trabalhos: Lobo (2018) e O Tremor Magnífico (2020). Eu estava fazendo uma residência dentro do Festival Proximamente (no KVS, em Bruxelas) e quando eu abro ao público a primeira parte do trabalho – estava pesquisando essa parte da conferência –, nessa noite, a Magda (que é parceira do Tiago Rodrigues e está trabalhando na curadoria do festival) assiste ao trabalho e essa conversa começa. Isso tem quase dois anos.
Depois, o Tiago assistiu à finalização do meu mestrado na DAS Théâtre, ainda como processo aberto, e essa conversa continua. Então não é uma estratégia. E eu acho isso muito importante de deixar claro. Porque não é um trabalho para que isso aconteça… Foi realmente o trabalho, a pesquisa, uma pesquisa continuada de uma artista que está no corre há muitos anos. Por isso esse espaço se abre, se apresenta como possível.
É uma possibilidade de o trabalho chegar noutros campos.
Sim. Vamos nomear as coisas, vamos nomear estupro, vamos nomear essa violência. E ao nomear isso eu sinto que consigo, quiçá, criar um trabalho que abre um escopo de comunicação muito mais amplo.
Como artista brasileira que não está morando no Brasil, a estreia aqui permite horizontes amplos. Não lembro o último trabalho brasileiro que esteve em Avignon na programação oficial.
Só Christiane Jatahy, que já está em Paris há muitos anos e é associada de vários teatros na França.
Nesse ponto é um gesto muito importante. Nós somos um grupo de teatro independente da cena de São Paulo, um grupo que não teve apoio institucional em São Paulo em nenhum dos meus últimos trabalhos. Lobo foi feito com crowdfunding (financiamento participativo), Tremor Magnífico foi feito sem nenhum apoio. Estávamos trabalhando num sistema superprecário. O que acontecia é que a gente conseguia juntar um grupo interessado e, no caso de Lobo, isso dava alguma visibilidade. Eu sempre fui uma pessoa comprometida em compartilhar os meus processos através de workshops, a gente fazia girar uma cena de workshops. Eram trabalhos que tinham sempre muita gente ao redor, que estavam sendo feitos continuamente, mas não estavam sendo sustentados financeiramente. Então é um grupo de teatro independente que vem para um programa da cena principal de Avignon. E acho que isso é alguma coisa.
Lembro que, quando soltaram a programação, recebi muitas mensagens de amigas minhas do Brasil, diretoras, inclusive muitas que foram minhas alunas, dizendo: “Uau! Agora a gente pode sonhar que isso é possível!”. E eu me reconheço nisso, porque não achava que era possível. Uma diretora como eu, que vem de uma família de classe baixa, que tem um monte de gente que está no mesmo corre. A gente só tinha 247 empregos para conseguir fazer o que a gente precisa fazer! Estou falando isso, mas não é para dizer “Vejam como a gente fez um caminho árduo”. Não, não é essa a narrativa, não tem a narrativa heroica. Eu já dizia isso no Brasil. As pessoas falavam: “Mas vocês conseguem se virar, fizeram Lobo com crowdfunding…” e eu respondia: “Vão se fuder! Não exaltem isso. Eu não estou exaltando essa precariedade”. Mas, pra mim, a coisa mais importante é que outras diretoras entendam que espaços como esse são possíveis.
Nessa mudança na direção do festival, Tiago Rodrigues defendia, entre outras coisas, a paridade, e conseguiu por em prática nesta edição. Há uma maioria de mulheres que dirigem espetáculos na programação.
Totalmente. Acho que somado a tudo, há uma mudança na direção para um artista incrível, que é o Tiago Rodrigues, uma pessoa muito sensível, que tem uma relação profunda com o Brasil, com a América Latina. Então muda essa estrutura de ter na programação só espetáculos que são inalcançáveis. Nesse contexto, que acho que tem a ver com questões de classe, mas isso é outro assunto, acho importante que a gente comece a poder estar nesses espaços
Você acha que essa participação em Avignon já deu uma nova direção, um outro rumo para seu trabalho. Já está repercutindo?
Sim, no sentido de que a gente já tem turnês, já tem espaços que estão interessados no projeto. E sobretudo poder trabalhar com dignidade com o meu coletivo. Conhecer, eu diria, como é possível fazer um teatro assim.
O que é fazer um teatro com dignidade? Você está falando economicamente ?
Não só economicamente… quase que psiquicamente. Você começa a ver que o trabalho está gerando retornos. Você vai vendo palpavelmente o que pode acontecer. Isso para mim é inédito.
Saíram críticas bacanas no Le Monde e em muitos jornais e revistas importantes de vários países da Europa.
Isso é inédito. A gente falava isso, no Brasil, não saía nada. A gente ia fazer site e não tinha fortuna crítica. Claro, já sinto que há uma grande mudança. Pra mim, uma das coisas mais lindas era abrir a Folha e ver lá uma crítica da Janaína Leite, minha amiga, e a gente dizia “Alguma coisa está acontecendo”, porque há algum tempo a gente não tinha nem espaço; eram as pessoas de sempre ali, os espaços centrados nos mesmos diretores, então vamos furando esse lugar que, pra mim, é muito importante.
“Como se esse corpo estivesse
sempre tentando se aproximar
tentando desvendar
um enigma impossível.
Então isso é a linguagem”.
Gostaria que você falasse mais sobre linguagem e o desenvolvimento da sua pesquisa sobre feminicídio, feminino e tal. Porque a questão não é o tema, não é assunto, mas a linguagem. O que é a sua linguagem, como você desenvolve essa linguagem e isso entra para mexer com o teatro brasileiro e agora para além?
Esse é um dos meus temas preferidos. Sinto que sou muito obcecada por essa criação. A gente falou na Jana leite e lembro de quando ela foi participar de um debate sobre Lobo – depois de uma apresentação que eu a tinha convidado para ser provocadora dessa conversa – e ela disse que quando ela assistia aos nossos trabalhos, ela sentia que um mundo muito particular era criado. E eu uso essas palavras dela agora para refletir sobre esse mundo particular, como isso opera. O meu desejo de que através do teatro seja possível manifestar algum tipo de invenção, de como esse imaginário se manifesta.
Eu sinto que isso começa a partir da escrita. Estou falando isso porque a minha dramaturgia, a minha escrita, tem uma particularidade de imagens, de como essas imagens vão acontecendo, dessas associações. Acho que esse já seria o primeiro passo. Quando estou compartilhando informações, eu não só compartilho informações, mas tem alguma coisa ali que vai parar dentro de outra coisa, na maneira como escrevo. Por isso o espetáculo tem que ser em português. A gente está rodando com um espetáculo de duas horas e meia, com texto do começo ao fim, onde as pessoas vão ter que ler, e é isso, o espetáculo é em português. Tem uma coisa dessa poética, que vem. Esse é o exercício de linguagem número 1, a escrita.
E, a partir dessa escrita, como a gente manifesta na cena, junto com a minha companhia Cara de Cavalo, como nós manifestamos na cena – através de práticas que a gente vem desenvolvendo – como a gente se aproxima, como a gente dá corpo, como a gente manifesta essas ideias. É como você falou, não é o assunto, o assunto a gente já sabe, não é isso. A peça para mim é sobre isso, sobre linguagem. Tem essa pergunta: “É possível criar algo que seja tão violento quanto o ato em si?”. A peça é uma tentativa. Como se esse corpo estivesse sempre tentando se aproximar, tentando desvendar um enigma impossível. Sinto que isso é a linguagem.
Poder ter essa cena, onde existe o musical dentro do carro, que está misturada a outras coisas, com esse rasgo do real que é a performance, com esse acúmulo infinito de camadas, isso está conectado com essa criação de uma linguagem.
E você surpreende quem pensa que a peça fica na parte da palestra. Depois vem uma produção complexa, do carro, todas aquelas coisas, a movimentação. Da palestra para a coisa mais representacional e por que você fez essas escolhas?
Eu acho que tem a ver com esse fio dramatúrgico: a palestra era para compartilhar as informações sobre a vida e as histórias dessas artistas. E eu não poderia fazer isso de outra forma. Essas informações precisavam ser compartilhadas. Então, a performance vem como gesto de aproximação dessas histórias de violência. Estou falando de uma performer que foi assassinada (Pippa Bacca); como falar, como me aproximar dessa história? Então também coloco meu corpo em vulnerabilidade para conseguir chegar a essas histórias. Acho que, por outro lado, na segunda parte, o teatro vem reclamar o seu espaço completo; porque depois que você toma o “boa noite cinderela”, para onde nós vamos? A gente vai para o teatro. A gente precisa ir para essa representação alucinante. Acho que essa era a única maneira que tinha de seguir elaborando. O teatro precisa vir com essa possibilidade de elucubrar, como espaço de sustentação, o teatro precisa sustentar a sequência desse acontecimento. Eu preciso do teatro para tornar possível essa aproximação.
“Esse trabalho tem
que ser árduo num pacto
com o espectador. Nós não
podemos falar de violência
e sair daqui numa nice”.
Você falou que o teatro não é um lugar seguro. E na peça você fala que há um outro tetro que não se arrisca. Gostaria que você desenvolvesse essa ideia do teatro ser um lugar inseguro e dos riscos que você resolve, escolhe e vai por esse caminho. E outra coisa é que você está desbravando, está inventando a cada passo.
Para mim é muito importante dizer – e essa pergunta está dentro do texto da peça, quando falo com o quê o teatro tem que se parecer. Eu não acho que os teatros tenham que ser iguais, são muitos teatros. E acho que essa é a grande beleza da existência do teatro. Eu sou uma pessoa que ama o teatro. Mas o teatro que estamos fazendo nesse coletivo, nós sim acreditamos que o teatro é o espaço da instabilidade. Se a gente está falando de violência sexual – e acho que estamos sempre falando em nossos trabalhos de alguma maneira disso – o teatro precisa ser um espaço da instabilidade, ele precisa colocar em jogo um trabalho árduo. Encarar isso é um trabalho árduo e esse trabalho não pode ser árduo só para mim, ele tem que ser árduo num pacto com o espectador. Vamos juntos nessa jornada olhar para isso. Nós não podemos falar de violência e sair daqui numa nice.
Acho que por isso o “Fuck Catharsis”. A gente sabe que esse tipo de experiência não tem cura. Eu sei que esse tipo de experiência não tem cura. Você não vai superar, mas você vai entender, vai ficar olhando para ela e entender: “Ok, como eu faço, quais as minhas ferramentas para entender, como fui lidando com elas ao longo dos anos?”. E, nesse sentido, o teatro, não é que ele precise de riscos, colocar coisas em risco, mas o teatro é um espaço que não é seguro no sentido de que ele precisa atravessar você de alguma maneira, algo precisa se mover, algo precisa acontecer.
Eu não acredito que o teatro vai mudar o mundo, que porque estreei essa peça, 10 mil feminicídios vão acontecer a menos. Isso é uma bobagem, não acredito nisso. Mas acredito que algum movimento pode ser feito, se esses espectadores que estão assistindo à peça saírem um pouco perturbados, isso no próprio corpo, algo aconteceu. Esse algo a gente precisa deixar no mundo, para ver o que acontece depois.
Fuck Catharsis é um conceito?
Sim, mas não um conceito, digamos, teórico. Ele é um conceito da experiência. Num momento em que você vive uma violência sexual, porque eu sinto assim que tem muito esse papo, eu vejo outras peças que abordam o mesmo tema que adotam muito esse slogan “a vida depois disso, a cura, a superação”. Não tem superação! Fudeu! E aí o grande trabalho da sua vida é dizer “e agora ?”. Aí tem que buscar ferramentas para lidar com a violência. Não é dizer “assim, gente, estou curada do estupro que sofri, tô de boas, a peça me ajudou”. Porque tem muita essa ideia na peça autobiográfica de quando você vai lá e expõe seu problema com o público e o público te aplaude, chora, se pensa, aí Catharsis, pronto, ficou para trás. Não ficou para trás! Todos os dias você vai carregar consigo os efeitos disso. O que começa a acontecer é que você vai encontrando formas de lidar, de articular isso.
Na peça você fala que não existe amor, só ternura. Como é isso?
A sobrevivência à uma violência sexual implica em algo que confunde completamente a linha do tempo. E por isso, claro, é precisa inventar uma maneira de se relacionar com o desejo, com o amor, com as relações pessoais. Nesse sentido, esse amor que não existe na peça é a constatação de que depois de um ato tão violento não se entende o que é o amor. Mas há a ternura, e aí tem outro ponto chave do trabalho que é entender qual o papel da amizade. O espetáculo termina com uma carta a uma amiga. Qual o papel da amizade? Como a amizade pode sustentar, a amizade entre as mulheres sobretudo, essa continuidade, esse seguir vivendo? Por isso o Fuck Catharsis, porque não é cura. A gente tem que entender o que fazer, articular e descobrir como seguir.
Qual o poder do teatro?
Eu diria que uma das coisas mais importantes do teatro é o seu processo coletivo, a coletivização das coisas, a coletivização das questões, a experiência coletiva. Desde o grupo até o encontro com o público, a experiência de coletivizar algo. Ainda mais no caso de A Noiva e o Boa noite Cinderela, que traz experiências que deveriam ser abafadas, pertencer ao lugar privado; o que significa colocar essas experiências lá, por isso é que é confuso, por isso são essas camadas que quase dão a sensação de que a gente não suporta mais, porque essas histórias vêm como uma avalanche, ela só pode vir assim como uma grande tempestade de merda. Porque não tem como, a gente precisa falar. E aí tem esse grande trabalho aí que é a escuta. Como é que a gente escuta essas histórias, como é que a gente conta?