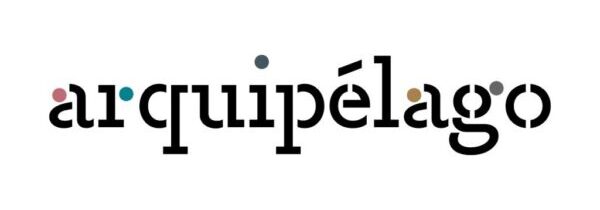Monga, trabalho em andamento de Jéssica Teixeira, na Farofa do Processo. Foto: Ligia Jardim / Divulgação
 O espetáculo em processo Monga, concebido e protagonizado por Jéssica Teixeira visita o lugar do estranho com ousadia, para falar de si e de uma dinâmica do mundo opressor/repressor. Para isso, a artista mergulha na jornada de Julia Pastrana, mexicana que adquiriu notoriedade sob a alcunha depreciativa de “mulher-macaco”, figurando como uma das principais inspirações dos espetáculos de curiosidades, conhecidos como Freak Shows, no Brasil e no mundo. O trabalho Monga foi apresentado na Farofa do Processo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e nós assistimos no dia 5 de março, na sessão das 11h.
O espetáculo em processo Monga, concebido e protagonizado por Jéssica Teixeira visita o lugar do estranho com ousadia, para falar de si e de uma dinâmica do mundo opressor/repressor. Para isso, a artista mergulha na jornada de Julia Pastrana, mexicana que adquiriu notoriedade sob a alcunha depreciativa de “mulher-macaco”, figurando como uma das principais inspirações dos espetáculos de curiosidades, conhecidos como Freak Shows, no Brasil e no mundo. O trabalho Monga foi apresentado na Farofa do Processo, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, e nós assistimos no dia 5 de março, na sessão das 11h.
Começamos nossa reflexão por Julia Pastrana (1834-1860), uma mulher indígena mexicana que se tornou conhecida mundialmente como “a mulher mais feia do mundo” devido a uma condição genética rara, designada como hipertricose terminal (caracterizada por um crescimento excessivo de pelos em partes do corpo), combinada com uma possível forma de acromegalia, que conferiam traços faciais e dentárias incomuns.
Pastrana foi vendida ou entregue a um administrador de espetáculos, Theodore Lent, que se tornou seu empresário e mais tarde seu marido. Lent explorou a aparência de Pastrana, exibindo-a em shows por toda a Europa e América do Norte, onde ela era anunciada como a “mulher-urso” ou “mulher macaco”.
Julia era uma artista talentosa, com habilidades que incluíam canto e dança. Ela possuía uma voz mezzo-soprano – dizem que encantadora – e apresentava peças musicais desde ópera a canções populares da época. Poliglota, ela falava várias línguas, incluindo espanhol (sua língua materna), inglês e francês, o que facilitava sua comunicação com o público de vários países, durante suas turnês.
Apesar de sua fama, a artista teve uma vida marcada por exploração e desumanização, o que evidencia o início do entretenimento comercial baseado na objetificação e na exploração de corpos não normativos.
Os conceitos teóricos e as referências nos permitem entender seu caso não apenas como um evento isolado, mas como parte de uma estrutura mais ampla de opressão e objetificação. Em Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color, Kimberlé Crenshaw desenvolve o conceito de interseccionalidade para explicar como diferentes sistemas de opressão (raça, gênero, classe) interagem na vida das mulheres negras. Aplicado à situação de Pastrana, esse conceito ajuda a entender como sua exploração foi moldada não somente por seu gênero, mas também por sua etnicidade e suas características físicas.
Prazer Visual e Cinema Narrativo, de Laura Mulvey, é um texto seminal que introduz a ideia do “male gaze” argumentando que as mulheres são objetificadas nas narrativas cinematográficas para o prazer do espectador masculino. Embora Mulvey se concentre no cinema, seu conceito pode ser utilizado ao contexto de Pastrana, onde ela foi objetificada e desumanizada para entretenimento público.
Judith Butler discute, em Problemas de Gênero: Feminismo e a Subversão da Identidade“, a performatividade do gênero e como as normas de gênero são socialmente construídas e mantidas através de atos performativos repetidos. A exploração de Pastrana destaca a rigidez e a crueldade das normas de gênero e beleza, bem como a violência da não conformidade.
Essas referências teóricas fornecem uma estrutura para compreender a vida e a exploração de Julia Pastrana não apenas como um caso de curiosidade do século 19, mas como um exemplo da contínua objetificação, marginalização e desumanização de corpos não normativos e da persistente construção do “outro” nas sociedades patriarcais e coloniais.
Ao explorar essas dimensões, podemos reconhecer a relevância contínua de sua história para as discussões feministas contemporâneas sobre corpo, identidade e resistência.
Após sua morte em 1860, o abuso persistiu com a exibição de seu corpo e do seu filho. Essa exploração, iniciada por seu marido Theodore Lent, reflete a objetificação de Julia em vida e a desumanização após sua morte, configurando a extensão da dominação patriarcal. No século 20, os corpos foram esquecidos e depois redescobertos, mostrando a fascinação contínua pela imagem de Julia. Somente no século 21, após esforços de ativistas e do governo mexicano, Julia foi repatriada e enterrada no México em 2013, um gesto simbólico para restaurar sua dignidade.
Jéssica Teixeira sinaliza nas tramas de Monga os preceitos do “realismo traumático” de Hal Foster. A peça se ergue em um complexo de células narrativas, incluindo a jornada de Julia Pastrana, o poema-prosa Entre fechaduras e rinocerontes de Frei Betto, uma conversa com Deus, reflexões sobre a ausência, interações com a plateia, algumas músicas incluindo uma sobre o inferno, numa exploração crua da percepção social dos corpos e da incessante busca por sentido em um mundo fragmentado.
Teixeira, habilmente, não se limita à representação direta da realidade; em vez disso, ela convoca uma série de técnicas que sugerem um encontro falho com o real, alinhando-se com a teoria de Foster. A utilização de luzes estroboscópicas, microfones e uma variação de cenários do claro ao escuro forja uma atmosfera imersiva e projeta a repetição do irrepresentável, gerando um choque que supera o visual ou temático para perturbar a própria estrutura da obra.
A atuação despojada, com a atriz por vezes usando uma máscara de macaco, critica a busca incessante por um ideal inatingível de perfeição. Esse ato desafia os espectadores a confrontar suas próprias percepções e preconceitos.
A peça Monga se engaja com o conceito de “abjeto”, conforme explorado por Foster, ao abordar temas considerados repulsivos e marginalizados como meio de confrontar e refletir sobre as condições sociais contemporâneas. A conversa com Deus e a música que proclama que “o inferno está cheio” provocam diretamente o público, desafiando crenças religiosas e sociais arraigadas. Enquanto a interação direta com a plateia questiona a vida e nossa duração neste planeta e a suposta completude dos corpos ou corpos perfeitos.
Ao incorporar o texto de Frei Betto, Entre fechaduras e rinocerontes, Teixeira enriquece a narrativa. Embora a essência poética do texto original ofereça profundas reflexões sobre a vulnerabilidade humana, penso que uma adaptação mais radical – com cortes e justaposições – removendo as camadas de moralidade católica poderiam destilar suas qualidades sem perder a essência.
Monga oferece insights valiosos sobre as dinâmicas da arte contemporânea e sua capacidade de engajamento com a realidade traumática. É um meio de explorar e expressar as complexidades e contradições do mundo atual, destacando os desafios de representação, engajamento e resistência em um mundo pós-ideológico.
A interação com a plateia, um momento crucial de Monga pode requerer ajustes em sua dramaturgia. Em vez de questionar diretamente a presença de burgueses na audiência, por exemplo, Teixeira poderia optar por um caminho mais indireto, lançando uma série de perguntas provocativas que funcionem como espelho, refletindo os preconceitos e as suposições do público. Esse mecanismo pode desarmar e chegar ao miolo das crenças e atitudes do espectador.
A artista, ao se declarar habitante e dona de um “corpo extremo”, estabelece uma conexão com Pastrana, desafiando as normativas sociais que moldam a percepção dos corpos e questionando as fronteiras entre o normal e o anormal. Essa ligação honra a memória de Pastrana e amplifica a posição de Monga na defesa da dignidade inerente de cada ser humano, independentemente de sua aparência.
Monga se apresenta como uma obra que desafia as convenções, tanto em forma quanto em conteúdo. A atuação e direção de Teixeira sintetizam uma dança entre luz e sombra, entre o visível e o invisível, criando um espaço onde o realismo traumático de Hal Foster encontra um novo sopro.
Este texto integra o projeto arquipélago de fomento à crítica, com apoio da Corpo Rastreado.