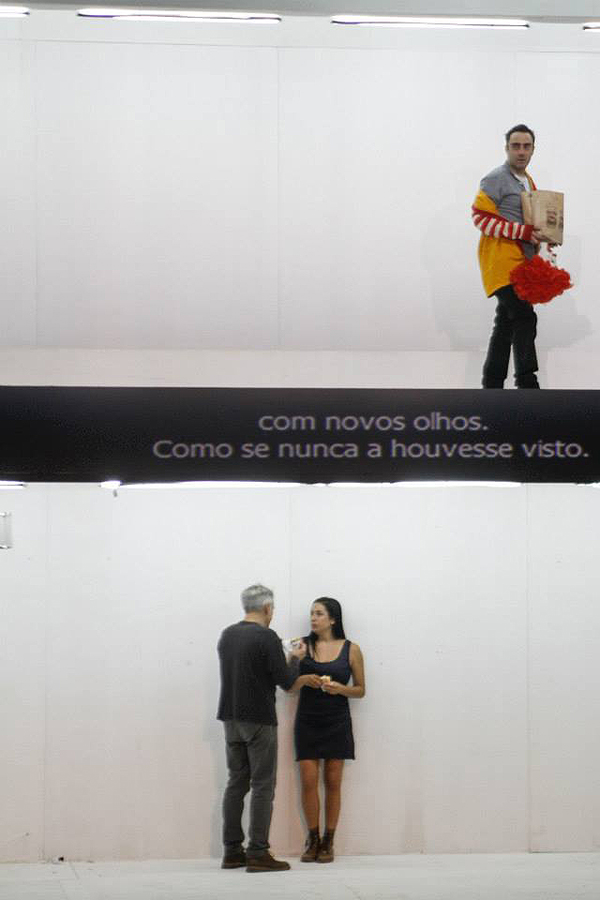Saiu na noite de ontem (1) a lista dos vencedores do 59º Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). São diversas categorias, que incluem, por exemplo, arquitetura, literatura, cinema, teatro, dança e televisão.
No teatro, o prêmio de melhor espetáculo foi dividido entre duas montagens: O homem de La Mancha e Pessoas perfeitas; o pernambucano Newton Moreno levou o prêmio de dramaturgia ao lado de Alessandro Toller por O grande circo místico; Laila Garin (que esteve no Recife com o elenco de Gonzação, A lenda) ganhou melhor atriz por seu papel em Elis, A musical; e o prêmio especial foi para a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo (MITsp), realizada em março. Na categoria televisão, Irandhir Santos, que estuda a possibilidade de voltar aos palcos na próxima montagem do Coletivo Angu de Teatro, levou melhor ator por Amores roubados e Meu pedacinho de chão.
A festa de premiação será realizada ano que vem.
Confira a lista completa dos premiados no APCA 2014:
TEATRO
Grande Prêmio da Crítica: Laura Cardoso
Espetáculo: O Homem de La Mancha e Pessoas Perfeitas
Diretor: Marco Antonio Pâmio (Assim É (Se Lhe Parece))
Dramaturgia: Newton Moreno e Alessandro Toller (O Grande Circo Místico)
Ator: Cleto Baccic (O Homem de La Mancha)
Atriz: Laila Garin (Elis, a Musical)
Prêmio Especial: Prêmio MitSP (Mostra Internacional de Teatro de São Paulo)
Votaram: Afonso Gentil, Aguinaldo Cristofani Ribeiro da Cunha, Carmelinda Guimarães, Edgar Olímpio de Souza, Evaristo Martins de Azevedo, José Cetra Filho, Kyra Piscitelli, Marcio Aquiles, Maria Eugênia de Menezes, Michel Fernandes, Miguel Arcanjo Prado, Tellé Cardim e Vinício Angelici
TEATRO INFANTIL
Grande Prêmio da Crítica: Banda Mirim, pela trajetória de 10 anos (direção de Marcelo Romagnoli)
Melhor Espetáculo com Música para Crianças: Mania de Explicação, de Luana Piovani Produções Artísticas (direção de Gabriel Villela)
Melhor Espetáculo com Texto Adaptado para Crianças: As Bruxas da Escócia, do Grupo Vagalum Tum Tum (direção de Ângelo Brandini)
Melhor Espetáculo com Contação de Histórias: As Três Penas do Rabo do Grifo, da cia. Faz e Conta (Ana Luísa Lacombe)
Melhor Elenco de Peça: Cia Delas, por A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília (atrizes Cecília Magalhães, Fernanda Castello Branco, Lilian Damasceno, Paula Weinfeld e Thaís Medeiros, com direção de Carla Candiotto)
Melhor Espetáculo com Interação de Mídias: O Sonho de Jerônimo, do grupo Fabulosa Companhia (direção de Eric Nowinski)
Personalidade do Ano no Teatro Para Crianças e Jovens: Luíza Jorge, pela criação, coordenação e produção do novo Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem
Votaram: Dib Carneiro Neto, Gabriela Romeu e Mônica Rodrigues da Costa
TELEVISÃO
Dramaturgia: Amores Roubados/TV Globo
Atriz: Cássia Kis Magro (Amores Roubados e O Rebu/TV Globo)
Ator: Irandhir Santos (Amores Roubados e Meu Pedacinho de Chão/TV Globo)
Direção: José Luiz Villamarim (Amores Roubados e O Rebu)
Programa de Variedades: O Infiltrado/History Channel
Programa de Humor: Tá no Ar/TV Globo
Programa Infantil: Quintal da Cultura/TV Cultura
Menção Honrosa: A Grande Família/TV Globo (pela trajetória e episódio final)
Votaram: Cristina Padiglione, Edianez Parente, Flávio Ricco, João Fernando, José Armando Vanucci, Leão Lobo e Neuber Fischer
DANÇA
Grande Prêmio da Crítica: Lia Rodrigues, por Pindorama e Exercício M
Pesquisa em Dança: Biomashup, de Cristian Duarte e Lote # 3
Projetos em Dança: Marcos Villas Bôas
Criação em Dança: Cena 11, por Monotonia de Aproximação e Fuga para 7 Corpos
Espetáculo: Tira Meu Fôlego, de Elisa Ohtake e elenco
Percurso em Dança: Vera Sala / Hideki Matsuda
Iniciativa em Dança: 7×7, projeto de Sheila Ribeiro
Votaram: Ana Teixeira, Ana Francisca Ponzio, Helena Katz e Renata Xavier
CINEMA
Filme: Praia do Futuro, de Karim Aïnouz
Diretor: Paulo Sacramento, por Riocorrente
Roteiro: Fernando Coimbra, por O Lobo Atrás da Porta
Ator: Ghilherme Lobo, por Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho
Atriz: Deborah Secco, por Boa Sorte
Documentário: São Silvestre, de Lina Chamie
Fotografia: Jacob Solitrenick, por De Menor
Votaram: Orlando Margarido, Rubens Ewald Filho e Walter Cezar Addeo
[dropdown_box expand_text=”Clique aqui para conferir o resultado das demais categorias” show_more=”” show_less=”” start=”hide”]
ARTES VISUAIS
Grande Prêmio da Crítica: Abraham Palatnik – A Reinvenção da Pintura – MAM
Exposição Internacional: Hans Hartung – Oficina do Gesto – CCBB
Exposição: Paulo Bruscky – MAM
Retrospectiva: Iberê Camargo – Um Trágico nos trópicos – CCBB
Fotografia:Luiz Braga – Retumbante Natureza Humanizada – SESC Pinheiros
Obra Gáfica: José Roberto Aguillar – 50 Anos de Arte
Iniciativa Cultural: Cidade Matarazzo Made by…. Feito por brasileiros
Votaram: Antonio Santoro Jr., Antonio Zago, Dalva Abrantes, João J. Spinelli, José Henrique Fabre Rolim, Luiz Ernesto Machado Kawall, Marcos Rizolli, Ricardo Nicola, Silvia Balady, Emilia Okubo e Rubens Fernandes Junior.
LITERATURA
Grande Prêmio da Crítica: João Adolfo Hansen e Marcello Moreira pelos cinco volumes “Gregório de Matos”; editora Autêntica
Romance: “O Irmão Alemão”, de Chico Buarque; editora Companhia das Letras
Ensaio/Crítica/Reportagem: “Música com Z”, de Zuza Homem de Mello; editora 34
Infanto-Juvenil: “A Incrível História do Dr. Augusto Ruschi”, de Paulo Tatit; editora Melhoramentos
Poesia: “Mesmo sem dinheiro comprei um esqueite novo”, de Paulo Scott; editora Companhia das Letras
Contos/Crônicas: “O Homem-mulher”, de Sérgio Sant’Anna; editora Companhia das Letras
Tradução: Caetano Galindo, por “Graça infinita”, de David Foster Wallace; editora Companhia das Letras
Biografia/Memória: “Getúlio (1945 – 1954) – Da volta pela consagração popular ao suicídio”, de Lira Neto; editora Companhia das Letras
Votaram: Amilton Pinheiro, Felipe Franco Munhoz, Gabriel Kwak, Luiz Costa Pereira Jr. e Ubiratan Brasil
MÚSICA POPULAR
Grande Prêmio da Crítica: Nelson Motta
Grupo: Banda do Mar
Intérprete: Anelis Assumpção
Compositor: Marcelo Jeneci
Revelação: Ian Ramil (pelo álbum “Ian”)
Álbum: Encarnado, de Juçara Marçal
Show: Titãs – Nheengatu
Projeto Especial – Jazz na Fábrica – Sesc Pompeia
Votaram: Inês Fernandes Correia, José Norberto Flesch e Marcelo Costa
RÁDIO
Prêmio Especial do Juri: Milton Jung – Jornal da CBN 1ª edição
Internet: Plug Rádio USCS – Universidade Municipal de São Caetano do Sul (plugradiouscs.com.br)
Musical: Espaço Rap 2 – 105 FM
Humor: Plantão de Notícias – Rádio Globo AM
Variedades: No Mundo da Bola, 25 anos – Rádio Jovem Pan
Cultura Geral: Estadão Noite – Rádio Estadão
Destaque do Ano: Um Pouquinho de Brasil – Cultura FM
Votaram: Fausto Silva Neto, Marco Antonio Ribeiro e Sílvio Di Nardo
ARQUITETURA
Homenagem pelo conjunto da obra: Giancarlo Gasperini
Fronteiras da arquitetura: “Maneiras de expor: a arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi”, curadoria de Giancarlo Latorraca/Museu da Casa Brasileira
Projeto urbano: Ponte Bayer – passarela móvel sobre o canal Guarapiranga, São Paulo – Loeb Capote Arquitetura e Urbanismo/ arquitetos Roberto Loeb e Luis Capote
Urbanidade: reurbanização de favela do Sapé – Base 3 Arquitetos/ arquitetos Catherine Otondo, Jorge Pessoa de Carvalho e Marina Grinover
Narrativas urbanas: Cristiano Mascaro
Difusão: documentário “Bernardes”, direção Gustavo Gama Rodrigues e Paulo de Barros
Revelação: Alojamentos estudantil na Ciudad del Saber, Panamá – SIC Arquitetura / arquitetos Eduardo Crafig, Juliana Garcias, Marcio Guarnieri, Fabio Kassai e Gabriela Gurgel
Votaram: Abílio Guerra, Maria Isabel Villac, Fernando Serapião, Guilherme Wisnik, Mônica Junqueira Camargo e Nadia Somekh