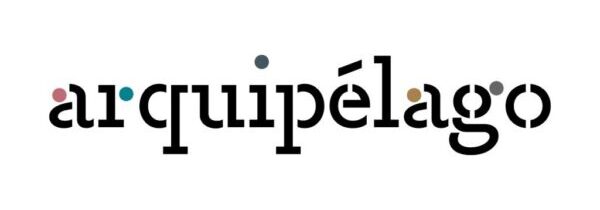Uma falha no sistema de microfones nos primeiros minutos da apresentação quase comprometeu a estreia de Simples Assim no Teatro Luiz Mendonça, Parque Dona Lindu, no Recife, na última sexta-feira – ironia não planejada para um espetáculo que justamente discute nossa dependência tecnológica. A peça, que ainda cumpre duas sessões no fim de semana, abre com uma cena alegórica: um âncora de telejornal (Pedroca Monteiro) que, ao noticiar uma sequência infindável de tragédias – “militares disparam mais de 80 tiros contra um carro com família”, fogo no parquinho, corrupção, – gradualmente esmorece até confessar: “Cheguei no meu limite”. O quadro sintetiza a proposta do espetáculo: retratar com humor leve as pequenas insanidades de nosso cotidiano. Essa cena toda, que deveria chegar por cima para provocar a indignação e risos, perdeu a força devido ao problema de microfones, o que dificultou a recepção desses primeiro quadro.
Baseada nas crônicas de Martha Medeiros e adaptada pela própria autora em parceria com Rosane Lima, a montagem apresenta dez cenas inspiradas nas coletâneas Quem Diria que Viver Iria Dar Nisso e Simples Assim. As crônicas, conhecidas por seu tom leve e ocasionalmente divertido, não trazem revelações surpreendentes, mas capturam pequenos dramas cotidianos com precisão. O elenco, composto por Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro, transita por diferentes personagens que se interconectam através de uma engenhosa estrutura circular onde cada cena compartilha um personagem com a seguinte, criando uma teia narrativa que conecta diferentes neuroses atuais.
O apresentador de telejornal exausto pelas notícias trágicas surta no ar e deixa contrariada sua produtora, que vai ajudar uma amiga que diz que vai viajar para outro planeta; esta amiga abandona o amante executivo viciado em tecnologia; este homem, que só consegue dialogar através das telas, é marido da mulher que, sobrecarregada pela rotina, contrata uma dublê para substituí-la em compromissos familiares; e assim segue a cadeia de personagens, conectando cada quadro ao seguinte numa estrutura que espelha o ciclo de desencontros.
Não se trata de uma comédia de reflexões profundas, mas sim um retrato bem-humorado do cotidiano da classe média branca brasileira, com seus problemas e privilégios específicos. No entanto, as cenas sobre nossa relação com a tecnologia, o isolamento social e a superficialidade das relações contemporâneas acabam se tornando, ironicamente, superficiais demais. A expectativa era que a cena como um todo tivesse mais humor e provocasse mais risos, como prometido nos anúncios, o que não se concretiza durante boa parte da apresentação.
Veterano nos textos de Martha Medeiros, Ernesto Piccolo apresenta sua terceira montagem da autora com uma direção conservadora. Conhecido por trabalhos mais ousados em outras produções, o diretor aqui opta por uma abordagem que contradiz a irreverência sugerida pelo tema. Seu trabalho oscila entre lampejos de inspiração e longos trechos de marasmo cênico que drenam a energia cômica. Quando aposta na interação direta com o público ou em soluções mais arriscadas, a comédia respira; quando se acomoda em escolhas mais convencionais, a dinâmica desacelera. As transições entre os quadros, embora tecnicamente funcionais, carecem de efeito cômico, principalmente na primeira parte do espetáculo especialmente morosa.
As crônicas de Martha, que cintilam na intimidade entre leitor e página com sua precisão do trivial, enfrentam no palco o desafio da adaptação literária: transformar o que é sussurro confidencial em voz projetada. O que no papel convida à reflexão solitária e sorrisos de reconhecimento exigiria no teatro uma tradução cênica mais provocativa, capaz de recriar coletivamente aquela faísca de identificação que a autora alcança tão naturalmente na solidão da leitura.
Os figurinos de Helena Araújo são um dos pontos altos da produção, com peças coloridas e versáteis que auxiliam na rápida transformação dos atores entre personagens. A iluminação de Felício Mafra cria ambientes distintos com sutileza, conseguindo delimitar espaços dentro do palco aberto sem quebrar o ritmo das transições. A cenografia tem poucos elementos no palco além de algumas cadeiras e um grande telão ao fundo. Este telão projeta cenas de notícias e, por vezes, imagens dos próprios atores em diferentes situações.
Há um jogo interessante entre as duas atrizes e o ator em cena, que transitam entre diferentes personagens com alguma versatilidade. Esta energia entre eles, contudo, nem sempre consegue contagiar o público. Quando isso acontece, principalmente na segunda metade do espetáculo, a peça ganha a leveza prometida.
Julia Lemmertz leva pro palco a sofisticação e a credibilidade conquistadas em décadas de atuação na TV e no cinema. Conhecida por personagens de maior densidade dramática, a atriz segura o cômico com elegância. Um de seus momentos mais desafiadores acontece quando desce à plateia para interpretar uma mulher com “nomofobia” – o medo irracional de ficar sem celular. Lemmertz estabelece um vínculo especial com os espectadores, mesclando a familiaridade de seu rosto conhecido à capacidade de capturar, com delicadeza, as pequenas neuroses do nosso tempo.
A versatilidade é a marca do trabalho de Georgiana Góes nesta montagem. Quando encarna a personificação da Morte – vestida de branco, – a atriz cria um dos raros momentos de tensão genuína do espetáculo. Enquanto esquadrinha a plateia procurando “alguém”, Góes provoca um riso nervoso, quase desconfortável, transformando o quadro em uma experiência emocionalmente ambígua.
Já Pedroca Monteiro inicia com uma energia inconsistente que afeta o ritmo inicial do espetáculo. O que parece insegurança revela-se, aos poucos, como uma escolha para alguns personagens mais exaltados. O ator encontra seu melhor momento na pele do já mencionado apresentador de telejornal que, diante da enxurrada de notícias trágicas, tem um colapso existencial em pleno ar, mas que depois retorna como uma versão transformada de si mesmo.
Plateia: termômetro de uma comédia que hesita
A recepção do público funciona como um infalível indicador da eficácia de uma comédia, e aqui os sinais foram preocupantes: silêncio predominante na primeira metade, com risos escassos e educados. O espetáculo só ganha vivacidade quando os atores começam a improvisar, soltar “cacos” sobre locais, personalidades e situações específicas da cidade, provocando finalmente as gargalhadas espontâneas.
Simples Assim, que iniciou sua trajetória em São Paulo em setembro de 2019 e agora percorre o Brasil, oferece 90 minutos de uma pausa agradável em nosso frenético cotidiano. Com classificação indicativa de 12 anos, a montagem cumpre seu papel ao retratar com honestidade e alguns momentos de graça as neuroses e ansiedades de uma classe média que se vê cada vez mais desconectada apesar (ou por causa) de toda sua hiperconexão digital. E oferece um espelho onde parte do público consegue se reconhecer – às vezes com um sorriso, outras com um desconfortável aceno de cabeça.
Ficha Técnica
Texto e adaptação: Martha Medeiros e Rosane Lima.
Direção Artística: Ernesto Piccolo.
Elenco: Julia Lemmertz, Georgiana Góes e Pedroca Monteiro.
Produção e idealização: Gustavo Nunes.
Cenografia: Clivia Cohen.
Projeções Cênicas: Rico Vilarouca / Renato Vilarouca.
Figurino: Helena Araújo e Alfaiataria Conrado.
Luz: Felício Mafra.
Trilha Sonora: Rodrigo Penna.
Visagismo: Uirandê Holanda.
Produtora de Elenco: Yolanda Rodrigues.
Preparação Corporal: Cristina Moura.
Designer
Fotos: Victor Hugo Ceccato.