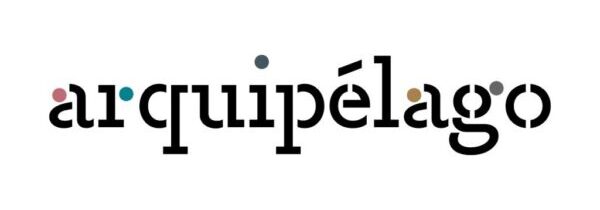Pontilhados – Intervenções humanas em ambientes urbanos é travessia. Uma experiência performática-urbana tecida pelo Grupo Experimental, do Recife, sob direção de Mônica Lira, que mergulha na pesquisa entre corpo, cidade, memória e presença. Trata-se de um espetáculo com roteiro, dramaturgia, direção e trilha sonora cuidadosamente elaborados: intérpretes e dançarinos apresentam cenas enquanto o público os acompanha pelas ruas. A obra integra som, poesia, música, deslocamentos, paradas e ações coreográficas. Contudo, é no processo subjetivo de cada participante que Pontilhados se amplia e se reinventa: percepções, lembranças e afetos individuais se entrelaçam ao tecido coletivo da experiência. Pontilhados é dança, caminhada, peregrinação, rito de passagem, arte do encontro e da escuta — e é desse diálogo entre estrutura e vivência que a obra se mantém viva a cada edição.
A peça é proposição sensorial: o convite propõe ver e sentir, habitar, perder-se, reconhecer-se, reaprender a olhar e escutar. A rota nunca é neutra: há camadas urbanas, marcas sociais, marcas no corpo da cidade e dos dançadores, marcas nos olhos de quem caminha junto; memórias pessoais colidem com memórias coletivas, criando uma trama plural e aberta.
Pontilhados, que teve sua primeira edição em 2016, surge com a urgência de existir poeticamente no espaço público, em tensão constante com os desafios das grandes cidades: suas dores, abismos sociais, festas de resistência e histórias de apagamento e reinvenção. É obra afetiva, política e profundamente viva, tornando-se sempre diferente, pois cada cidade, chão, grupo e plateia refaz o bordado de suas linhas a cada montagem.
O Grupo Experimental já apresentou Pontilhados no Recife (duas versões), São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Garanhuns, Fortaleza, Arcoverde e Medellín (Colômbia), levando para cada espaço um processo singular de reinvenção. Nesta 10ª edição, em Olinda (que ocorreu nos dias 9, 10 e 11 de maio), uma residência reuniu 20 artistas de diferentes territórios – entre eles Jean Souza (participante de Pontilhados em Salvador), Georgia Palomino (de São Paulo, que atuou em Salvador e Garanhuns) e Álefe Passarin (no elenco de Arcoverde), que trouxeram sabedoria de outros territórios para costurar junto o fluxo olindense.
O espetáculo conta com os intérpretes-criadores Rafaella Trindade, Everton Gomes, Henrique Braz, Marcos Teófilo e Anne Costa (convidada). A coordenação de Mônica Lira, fundadora do grupo, potencializa o intercâmbio de saberes, integrando diferentes trajetórias e experiências em uma mesma tessitura cênica. A participação dos residentes — Aline Sou, Camila Ribeiro, Dadinha Gomes, Daniel Dias, Isaac Souza, Jair Simão, Jonas Alves, Marcela Rabelo, Marcia Luz, Márcio Allan, Marcos Júnior, Maya Ferreira, Maysa Toledo, Natália Marinho, Salomé Archanjo, Yanca Lima e Yuri Barbosa — amplia ainda mais o coro de vozes e corpos.

Público percorre sítio histórico de Olinda, com a audioguia Paula Call e a diretora Mônica Lira à frente.
A caminhada propõe um mergulho sensorial mediado pela tecnologia: o público percorre as ruas com fones de ouvido, ouvindo um audioguia transmitido em tempo real. Vozes poéticas, trilhas cuidadosamente escolhidas e palavras emergem misturadas ao som da cidade. O desafio exige presença: é preciso subir e descer ladeiras, caminhar por calçadas antigas, enfrentar o calor, o vento ou a chuva inesperada que altera o percurso, sentir o cheiro da terra e perceber o tempo próprio da cidade.
Olinda acolheu Pontilhados de maneira intensa e singular. Suas ladeiras sinuosas, casarios coloniais e mirantes oferecem terrenos irregulares ao corpo, impondo a cada passo um novo ritmo e convidando a respirar no compasso da cidade. Lá, raízes indígenas e o legado africano se manifestam em cada traço urbano e na força vibrante da cultura popular. Esta edição constrói pontes entre histórias de resistência, convivência e transformação.
Mais profundamente, Olinda carrega a radicalidade da sobrevivência: o peso das invasões, o legado das festas populares — carnavais de maracatus, frevos, caboclinhos — e o misticismo de seus santos e orixás. É raro encontrar um lugar onde arquitetura, história, resistência cultural e religiosidade dancem tão em harmonia. Em Olinda, Pontilhados se reinventa como um tecido que recebe novos fios e cores sem perder o desenho-matriz.
Ao mesmo tempo, Olinda se torna protagonista e interlocutora do espetáculo. Cada recanto, cada curva das ruas, cada memória do povo dialoga com as perguntas lançadas pelo Grupo Experimental. A cidade responde – seja no silêncio, seja nas palavras recolhidas pela dramaturgia -, abrindo novas possibilidades de encontro entre intenções artísticas e vida real.

As atrizes dançarinas trazem questões do feminino: da luta por existir à violência sofrida. Foto: Rogério Alves

Os cães de rua entram na cena e parecem guardar a integridade do corpo. Foto: Rogério Alves / Divulgação
O itinerário de Pontilhados atravessa marcos emblemáticos do Sítio Histórico, transformando o espaço em dramaturgia viva. A caminhada começa na imponente Catedral da Sé – São Salvador do Mundo. O toque dos sinos, ouvido pelos fones ou imaginado em nossas mentes, marca um mergulho poético no início do trânsito.
Ali, diante da Catedral, uma mulher vestida de branco – figura tradicional dos rituais de casamento – surge sozinha, evocando mistério e poesia. Sob o olhar feminista e antimisógino de Pontilhados, essa presença solitária transforma-se em protagonista da própria história. Muito além do clichê da mulher abandonada, ela se revela sinal de autonomia, resistência e reinvenção. Suas emoções e silêncios se abrem a muitas leituras: não à espera da perda, mas afirmando a potência do feminino em sua complexidade, longe de narrativas engessadas.
O trajeto segue pela Ladeira da Sé, com o Palácio de Iemanjá testemunhando as águas e heranças de matriz africana. No Alto da Sé, a escadaria diante do Preto Velho convida a uma pausa de espiritualidade e ancestralidade: a cidade e o mar se revelam como paisagem e memória.
No Mirante do Observatório Astronômico – onde Emmanuel Liais, em 26 de fevereiro de 1860, observou e registrou o cometa Olinda (primeira descoberta do gênero na América do Sul e no Brasil) -, o horizonte se desdobra e o céu flerta com a dramaturgia dos corpos. Assistimos atentamente aos movimentos das bailarinas de vermelho, que encarnam a luta cotidiana das mulheres por existência e visibilidade.
Durante a caminhada, ouvimos em nossos fones, na voz de Silvinha Goes, evocação da trajetória de Branca Dias, mulher que desafiou opressões e lutou por direitos femininos ao lado de tantas companheiras. Em cena e na vida, essas mulheres dançam e enfrentam os algozes patriarcais — corpo a corpo, passo a passo, constroem uma coreografia de coragem e resistência. Até mesmo cães, vigias silenciosos das ruas, parecem zelar pela dignidade dos corpos que ali circulam ou já circularam.
O percurso se expande em paradas marcantes: a porta da Igreja da Misericórdia, a sombra generosa do Mirante das Flores, o popular Beco do Bajado, a Rua do Amparo, a calçada da Bodega do Veio, a varanda do Amparo, a Sede do Homem da Meia-Noite, até culminar na ladeira que leva à Igreja do Rosário. Cada etapa é imersão no sagrado e no profano, reconhecendo a cidade em sua vitalidade pulsante.
Quando o cortejo chega à Varanda do Amparo, a atmosfera carnavalesca se intensifica. Os artistas ocupam os dois níveis — em cima e embaixo — evocando o espírito irreverente do icônico Grupo Vivencial, referência fundamental da cena alternativa olindense/recifense, cuja ousadia inspirou o filme Tatuagem. No espaço, poesia e performance se cruzam em cenas que desconstroem a caretice de ontem e de hoje, colocando em xeque todas as normatividades. O audioguia ecoa essa energia subversiva em frases provocativas, como: “Tenho a mim mesma de coração exposto…cago nessa humanidade inteira, essa humanidade de coração engolido, cheio de proteção.” A irreverência ganha ainda mais força com a trilha sonora Polka do Cu (Cuica Feat – Tatuagem), entre risos, corpos em trânsito e afronta criativa.
Em seguida, no Largo do Amparo, o espetáculo mergulha na celebração coletiva do carnaval pernambucano. Enquanto os clássicos — como o Hino de Pernambuco, Maracatu Nação, Hino do Elefante de Olinda, orquestras e frevos — embalam o ambiente, o audioguia celebra a multidão, a alegria que brota da esperança e a força coletiva da festa: a cidade, feita de arte, gente e contrastes, se transforma em cenário e personagem, revelando todo o vigor do carnaval. Neste trecho, foliões solitários, pequenos grupos de passistas e agremiações de maracatu ocupam os espaços, surgindo em aparições fugazes e surpreendentes, como se fossem sonhos de carnaval materializados no caminho. A música, os corpos e os sentidos se fundem, tornando o percurso uma ode à criatividade popular e à vitalidade urbana.
Ao atravessar Olinda, não se pode ignorar a dor: as marcas históricas de exclusão, violência e desumanidade inscritas nessas ladeiras. Mas Pontilhados não transforma essa realidade em espetáculo da miséria. Ao contrário, coloca a dor em diálogo com o desejo de libertação, com o corpo em festa, a política da transgressão lúdica, a força dos rituais populares e a ressurreição poética da arte. O carnaval, nos becos e ladeiras, é síntese de política, resistência, afeto e esperança uma explosão coletiva onde drama, utopia e luta se encontram sem hierarquia, no terreno fértil das subjetividades em movimento.
Olinda é paisagem, personagem, cenário em constante mutação. Ao longo da caminhada, a natureza se faz presente: o cheiro das árvores, a iluminação que se transforma ao entardecer, a brisa vinda do mar. A natureza dialoga com o roteiro, os pássaros se entrelaçam à trilha sonora, o vento sopra ou leva embora palavras – tudo contribui para uma dramaturgia ampliada, convidando todos à presença atenta.
Silvia Góes, responsável pela dramaturgia (também atuante como a Noiva e a voz do audioguia, em Olinda) constrói um fluxo de sensibilidade que se adapta a cada lugar. Sua escrita dialoga com vozes recolhidas em entrevistas, documentos históricos e palavras que atravessam o tempo, como paráfrases e diálogos de autores como Clarice Lispector, Affonso Romano de Sant’Anna, Mario Quintana, Hilda Hilst e a polonesa Wisława Szymborska. São trechos que questionam a fluidez da identidade, o lugar do humano na cidade, o caos e a esperança coletiva.
Sua dramaturgia flui ora lírica, ora cortante, conduzindo do poético ao político, do íntimo ao social. Fala de liberdade sem camuflar prisões, de amor como experiência radical de alteridade, de utopia como persistência mesmo diante da falta. A palavra se reinventa em cada edição, filtrada pelo tempo, pelos gestos e pela escuta singular de cada lugar. O percurso em Olinda se faz entre perguntas -“O que é pertencer?” – em vozes, músicas, poesia e no próprio rumor da cidade.
As sonoridades dialogam com o ritmo coletivo do caminhar, fazendo ecoar o tempo da cidade, com suas pausas e abrindo passagem para o fluxo da palavra falada. Em certos momentos, a trilha se deixa atravessar pelos sons do ambiente: buzinas, conversas de moradores, latidos — autores reais da festa e do cotidiano, compondo uma orquestra viva e imprevisível.
As músicas escolhidas fazem ponte com a história e cultura pernambucana: do Afoxé Omunile Ogunja à voz de Aurinha do Coco, de Alceu Valença ao hino do carnaval, do maracatu às orquestras de frevo, e também o experimentalismo sonoro de Chico Science e Nação Zumbi. Cada trilha reverbera nos corpos, ativa memórias, convoca pertencimento. A música dialoga com a dramaturgia, ora potencializando o fluxo poético, ora criando pausas e transições, organizando o pulso do coletivo, a densidade do que é dito e sentido.
Pontilhados propõe ao público novas maneiras de pertencer e perceber o território – de modo que a cidade nunca é a mesma ao final da travessia. Cada microcena transforma-se em experiência, feita de paixão, estranhamento, dor, surpresa, comunhão, alegria e deslocamento.
Ao final, é do lado subjetivo que Pontilhados se projeta: na memória de cada participante, na marca deixada pela natureza e pela paisagem urbana, nos rastros dos que caminharam juntos e nos silêncios que residem após cada estação. Pontilhados é, sobretudo, experiência viva, plural, aberta ao imprevisto e em permanente reinvenção.
Ficha Técnica
Realização: Grupo Experimental
Direção, concepção e dramaturgia: Mônica Lira
Assistente de direção: Rafaella Trindade
Dramaturgia, voz-guia e artista convidada: Silvia Góes
Coordenação de produção: Chris Galdino
Comunicação e intérprete-guia: Paula Caal
Assessoria de imprensa: Lança Comunicação
Elenco: Rafaella Trindade, Everton Gomes, Henrique Braz, Marcos Teófilo
Artista convidada: Anne Costa
Artistas residentes: Álefe Passarin, Aline Sou, Camila Ribeiro, Dadinha Gomes, Daniel Dias, Georgia Palomino, Isaac Souza, Jair Simão, Jean Souza, Jonas Alves, Marcela Rabelo, Marcia Luz, Márcio Allan, Marcos Júnior, Maya Ferreira, Maysa Toledo, Natália Marinho, Salomé Archanjo, Yanca Lima, Yuri Barbosa
Figurino: Carol Monteiro
Identidade visual: Carlos Moura
Montagem da trilha e apoio de produção: Silvio Barreto, Iramaia Dália, Georgia Trindade, Bianca Alencar
Pesquisa musical: Ivo Thavora
Transmissão da trilha: Alexandre Nascimento
Fotografia: Rogério Alves
Apoios: Secretaria de Patrimônio e Cultura da Prefeitura de Olinda, Homem da Meia-Noite, Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, Catedral Sé de Olinda, Alma Arte Café, MST
Incentivo: Ministério da Cultura [Governo Federal], PNAB Pernambuco/Nacional, Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco.
O espetáculo Pontilhados Olinda foi apreentado nos dias 9,10 e 11 de maio de 2025, com concentração na Igreja da Sé, em Olinda
Leia também a crítica da apresentação de Pontilhados em São Paulo, postada em 30 de novembro de 2018 aqui
O Satisfeita, Yolanda? faz parte do projeto arquipélago de fomento à crítica, apoiado pela produtora Corpo Rastreado, junto às seguintes casas : CENA ABERTA, Guia OFF, Farofa Crítica, Horizonte da Cena, Ruína Acesa e Tudo menos uma crítica