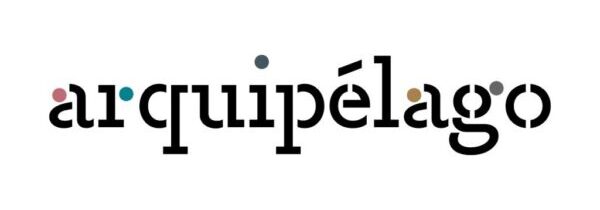Guará Vermelha é uma livre adaptação para o teatro do romance O voo da Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende. Foto: Ivana Moura
 Alguém do elenco de Guará Vermelha, espetáculo da Companhia do Tijolo, escreve na lona, que serve de quadro e chão: “Aqui você tem tempo”. Que convite fascinante e irrecusável neste mundo capitalista, que nos rouba o sono e o desejo na sanha de consolidar no imaginário de que tempo é dinheiro. Não meus amigos. Tempo é muito mais que o vil metal. Danem-se as campanhas publicitárias e os donos das grandes fortunas que insistem nessa tecla. Tempo é vida que pulsa, feito a flor de Drummond que rasga o asfalto contrariando as regras. Tempo pode ser haicai ou poema épico e assim vai.
Alguém do elenco de Guará Vermelha, espetáculo da Companhia do Tijolo, escreve na lona, que serve de quadro e chão: “Aqui você tem tempo”. Que convite fascinante e irrecusável neste mundo capitalista, que nos rouba o sono e o desejo na sanha de consolidar no imaginário de que tempo é dinheiro. Não meus amigos. Tempo é muito mais que o vil metal. Danem-se as campanhas publicitárias e os donos das grandes fortunas que insistem nessa tecla. Tempo é vida que pulsa, feito a flor de Drummond que rasga o asfalto contrariando as regras. Tempo pode ser haicai ou poema épico e assim vai.
A trajetória do Tijolo tem dessas coisas de comungar. De partilhar as horas, de esticar o encontro numa troca de muitas bonitezas (mesmo ao apontar lados sombrios). Às vezes a trupe vai tão fundo nas humanidades que até dói. Mas investe no caminho da cura, devagarzinho. É uma aposta no caminho freiriano da educação como prática da liberdade, do aprendizado e formação do ser, da celebração coletiva, da atuação no mundo com arte no teatro.
Na maioria das vezes, as montagens são longas, urdindo fabulações que parece aquela música do Gilberto Gil, Entra em beco e sai em beco, cuja personagem começa sentada numa pedra.
As pedras estão em toda parte em Guará Vermelha. No meio do caminho. Pedra bruta do cotidiano. No lombo do ajudante da construção civil iletrado, que conta histórias com a maestria de Sherazade (narradora dos contos de As Mil e Uma Noites). Na educação pela pedra de João Cabral. Na pedra que ensina à criatura da aridez geográfica e humana.
Pedrinhas que simbolizam pessoas que passaram e seguiram. Elas se fazem presentes. Pedras que podem traçar as pistas do itinerário, mas os apressados transeuntes desmancham sem nem notar. Pedras que entram na constituição de casas, escolas e teatros.
Guará Vermelha, a peça, se ergue em livre adaptação do romance O voo da Guará Vermelha, de Maria Valéria Rezende, que fala das necessidades afetivas, das fomes e carências dos que são achatados na pirâmide social e da epifania do encontro. São muitas coisas, muitas emoções da perspectiva dos oprimidos que a pedagoga, educadora popular (que colaborou com o professor Paulo Freire nas suas andanças pela educação) e escritora, Maria Valéria Rezende provoca e o Tijolo põe em cena.
O espetáculo tem direção de Dinho Lima Flor e um elenco grande, como gosta o Tijolo, de se ajuntar. Karen Menatti, Rodrigo Mercadante, Odilia Nunes, Thaís Pimpão, Artur Mattar, Lucas Vedovoto, May Tuti, Danilo Nonato, Dinho Lima Flor, Jonathan Silva, Maurício Damasceno, Marcos Coin, Nanda Guedes.
Irene (Karen Menatti) e Rosálio, (Rodrigo Mercadante) são os protagonistas, mas outras figuras acendem na cena – Anginha (Thaís Pimpão), João dos Ais (Jonathan Silva), Floripes (May Tuti), Beto do Fole (Nanda Guedes), Gaguinho de nome de pia Eustáquio (Odilia Nunes) e outros. O grupo faz também citações e homenagens: Conceição Evaristo, Ivone Gebara, Lourdes Barreto, Margarida Maria Alves, Abdias Nascimento, Antônio Candido, Nêgo Bispo, Paulo Freire. E muito mais.
“Das fomes e vontades do corpo há muitos jeitos de se cuidar porque, desde sempre, quase todo o viver é isso, mas agora, crescentemente, é uma fome da alma que aperreia Rosálio, lá dentro, fome de palavras, de sentimentos e de gentes, fome que é assim uma sozinhez inteira, um escuro no oco do peito, uma cegueira de olhos abertos e…”, começa o livro de Rezende.
A peça arde com festejo da re-união. Uma celebração à vida, com elenco e uma boneca gigante de Maria Rezende, a interação das atrizes e dos atores com público ofertando pedra ou pedrinha e discorrendo sobre a força real e simbólica do mineral.
Afeto, simpatia, amor, amizade se entrelaçam numa rede para tratar de consciência de classe, opressão, injustiças e lutas. “Para onde fugiu a humanidade?”, pergunta atônito Rosálio, filho de mãe solteira, o Nem Ninguém que depois é chamado de Curumim e, que conquista a existência civil com o nome na documentação de Rosálio da Conceição.
Ele inventou esse nome para si mesmo. Um primeiro passo para erguer-se como protagonista de sua própria história. A trajetória da personagem é tão mirabolante – escravizado, mira de revólver, mineração, libertação com a doação de pepita de ouro da velha senhora, voo de avião, nuvens, a escravização do liberalismo econômico (“Comeu feijão, trabalhou, lavou-se, dormiu, comeu feijão, trabalhou, lavou-se, dormiu”) que parece história de trancoso das “comunidades narrativas” da tradição oral do Nordeste do Brasil.
Rosálio analfabeto carrega consigo uma pequena mala com alguns livros (“Os livros são objetos transcendentes / mas podemos amá-los do amor táctil”, canta Caetano). Esses livros que cultiva são a fortuna de Rosálio, que correu o mundo motivado pela vontade de aprender a ler. (Isso é de chorar de alegria, num país que parte da população cultiva a bala como forma de intolerância). Rosálio não conseguiu o letramento nos lugares óbvios. Até se deparar com Irene.
Irene saiu do Norte. Em São Paulo vive/viveu da prostituição e pega/pegou Aids. No jogo de narrar e interpretar o grupo explica a diferença do HIV na década de 1980, com menos recursos de tratamento, mais desinformação e discriminação, para os dias atuais, quando a doença pode ser controlada, embora o preconceito seja um grande inimigo. Irene é uma prostituta que envelheceu com a doença, não consegue muitos clientes e tem que pagar para a mulher que cuida do seu filho.
No livro, existia um tal de Romualdo no passado de Irene. Mas a dramaturgia e a direção fizeram bem em diluir essa figura na cena.
A essência de Rosálio sintoniza com a essência de Irene. Mesma frequência de empatia com os seres viventes. Ele sentia a dor do corte no corpo quando arranjou um serviço de derrubar árvores. Um sagui e uma guará povoam a memória de cada uma dessas figuras como impulsionadores de compaixão.
A guará vermelha do título é uma ave de cor magnífica, bico fino, longo e levemente curvado para baixo. Pega essa pigmentação de plumagem rubra porque se nutre dos caranguejinhos vermelhos dos mangues. E é muito interessante saber que no cativeiro, com outras comidas, as plumas “desbotam”. Um paralelo com nós mesmos: somos também o que nos alimentamos no corpo, imaginário, espírito, utopias etc.
As andanças de Rosálio são incitadas por um desejo inquebrantável de aprender a ler. Irene também tem sua paixão pelas palavras, e guarda embaixo do colchão um caderno pensando em escrever histórias, um dia. Juntos, esses dois personagens forjam a “expansão do Universo” e adiam a chegada da morte. O entrosamento entre a atriz e o ator é de uma afinação profunda e isso é uma das riquezas do teatro de grupo, de anos trabalhando juntos, do conhecimento, entrega e respeito pelo outro.
Dessa troca de grupo são extraídos o humano, o onírico e o popular com delicadeza num jogo que conduz e envolve a plateia. A música, os arranjos musicais e as letras das músicas dialogam e coabitam os espaços cênicos produzindo texturas de forte apelo sensorial.
A cultura popular — com a literatura de cordel e as geniais oralidades – se entende muito bem com clássicos como Dom Quixote e As mil e uma noites, citados na peça. Palavras, frases, musicalidade da construção literária de Rezende se expressam perfeitamente pela boca e o corpo dos atores.
O teatro, esse teatro, é uma forma de se posicionar contra as atrocidades do estado e da sociedade. Cria espaços para a reflexão crítica, como instrumento de transformação. A coerência estética do Tijolo faz sua práxis atenta às principais lutas políticas de seu tempo – contra a desigualdade social, o genocídio dos negros e dos indígenas, a opressão da classe trabalhadora, a violência contra a mulher e o feminicídio, o abuso de poder, a violência policial, a desvalorização de professores, a exploração, a homofobia, a transfobia, a lesbofobia, etc.
Na sua pesquisa estética continuada, a companhia enaltece a educação como prática da liberdade, da pedagogia anticolonialista, do aprendizado como estratégia de conscientização e realização de sonhos. O aprendizado da troca de afetos para iluminar o mundo.
A encenação alterna presente, passado e futuro do passado em uma dinâmica bem elaborada, como ocorre também no livro. Narradores e personagens, os artistas utilizam técnicas épicas e dramáticas para obter escuta e acolhimento da plateia.
Os nomes dos capítulos do livro (cinzento e encarnado; verde e negro; ocre e rosa) estão estampados nos macacões do elenco. Em Alaranjado e verde vai pra cena um brincante que constrói um teatro no alto do morro e envolve toda a comunidade. Gaguinho narra essa história. Ou melhor Odília Nunes abraça e solta Gaguinho e fala também do seu projeto No Meu Terreiro Tem Arte, iniciativa linda realizada há alguns anos no Sertão do Pajeú, no sertão pernambucano, que promove intercâmbio cultural, residência artística, festivais como Chama Violeta e Palhaçada é Coisa Séria, no Sítio Minadouro.
A atuação de Odília é um farol, de um brilho vulcânico, com seu sotaque pernambucano e uma aterramento nas ancestralidades nordestinas. É um prazer vê-la em cena, a deslocar-se no palco, a acionar a ligeireza de raciocínio, o drible do jogo nas suas intervenções.
O elenco todo passa um compromisso com os princípios do Tijolo. Há algumas variações nas atuações. A inexperiência dos mais jovens está carregada de entusiasmo e acrobacias. Anginha de Thaís Pimpão é uma prostituta amargurada, revoltada e que não se importa se vai contagiar os parceiros com a doença. Mas há muita humanidade nesse ódio.
A cena melodramática, um trechinho de opereta cômico-popular do artista abandonado pela mulher amada tem um apelo de um hit chiclete. Com May Tuti (Floripes) e os músicos Jonathan Silva (João dos Ais) e Beto do Fole (Nanda Guedes), a cena utiliza-se da simplicidade e humor para fazer uma crítica ao patriarcado.
É a palavra de Rezende que robustece a trilha de Rosálio e leva vigor para os últimos dias de Irene. Irene vive mais e melhor com as histórias que alimentam os dois. Irene ensina, Rosálio aprende, ele ensina, ela aprende. Eles se alimentam de palavras e afetos. Eles se aceitam e não se julgam. Histórias de Brasis. Guará Vermelha defende que Irenes podem desejar sim viver de amor, mesmo que doam os “golpes dos pés do homem tarado”. O coração de Rosálio pode sim desejar contar histórias, ser um grande escritor.
A inclinação épico-dialético das narrações frenéticas com os pés no teatro contemporâneo, o arsenal político-estético-pedagógico do teatro, o trabalho militante sem alienação do processo artístico desta peça do Tijolo projetam as questões e as contradições sociais como disparador do pensamento crítico.
Os pactos, a elaboração do diretor Dinho Lima Flor junto ao seu grupo apostam na chave brechtiana/ freiriana / rezendiana da diversão e do prazer do aprendizado. O desejo de modificar o mundo por uma vida mais digna está presente. Vida longa ao espetáculo. Viva o teatro!
FICHA TÉCNICA
Direção geral Dinho Lima Flor
Elenco Karen Menatti, Rodrigo Mercadante, Odilia Nunes, Thaís Pimpão, Artur Mattar, Lucas Vedovoto, May Tuti, Danilo Nonato, Dinho Lima Flor, Jonathan Silva, Maurício Damasceno, Marcos Coin, Nanda Guedes
Direção musical William Guedes
Iluminadora Laiza Menegassi
Figurino Silvana Marcondes Cia do Tijolo
Cenário Andreas Guimarães Cia do Tijolo
Técnico de som Leandro Simões
Dramaturgia Fabiana Vasconcelos Cia do Tijolo
Concepção do projeto Dinho Lima Flor Rodrigo Mercadante Karen Menatti
Direção de produção Suelen Garcez
Assistente de produção Lucas Vedovoto
Fotos Alécio Cesar
Design gráfico Cia do Tijolo Fábio Viana
Espetáculo inspirado no livro O Voo da Guará Vermelha de Maria Valéria Rezende
Temporada
Sesc Avenida Paulista (Arte II (13º andar)
Duração: 170 minutos
Até 22/10
Sessões esgotadas
Temporada estendida até 05/11
Sessões de quarta a domingo
Ingressos https://www.sescsp.org.br/programacao/guara-vermelha/ ou nas bilheterias do Sesc
Este texto integra o projeto arquipélago de fomento à crítica, com apoio da Corpo Rastreado.